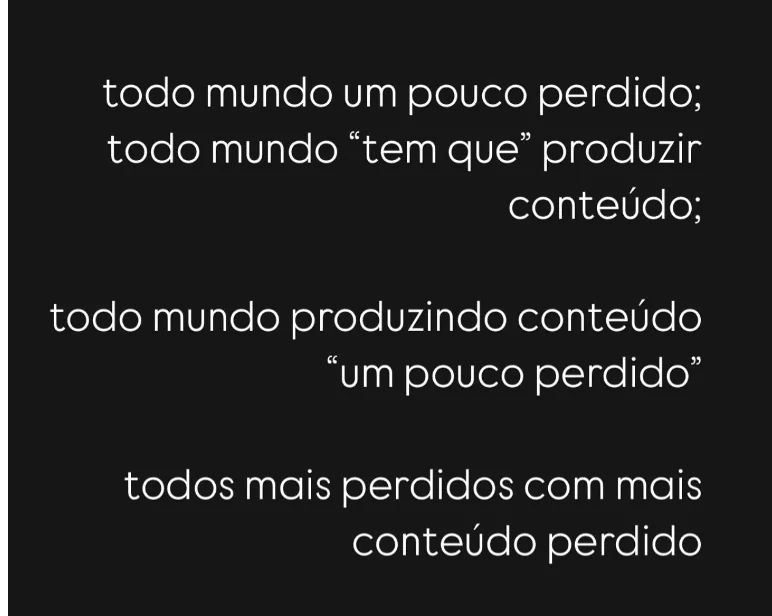10 razões pelas quais somos gratos a Clayton Christensen
Tivemos por três décadas o privilégio de contar com as ideias do pioneiro da inovação da Harvard Business School, mas falta muita empresas entender sua mensagem ainda

Foi uma tristeza receber a notícia da morte do professor Clayton Christensen na semana passada. Não só tive a honra de conhecê-lo, como sou fã de muitas de suas ideias. Quando informei os membros do nosso inovador conselho editorial sobre o falecimento, as reações foram igualmente de tristeza. “Era um dos realmente inovadores”, disse Silvio Meira. “Grande perda”, concordou Fernando Martins, que trabalhou com Christensen ao longo de sua carreira na Intel. (Ao que consta, foi Andy Grove, o icônico CEO da Intel, que revelou Christensen ao mundo, ao se deixar fotografar carregando um livro dele.)
O fato é que Christensen foi-se embora muito cedo – tinha apenas 67 anos de idade, o que, segundo a nova regra dos italianos, nem é considerado idoso ainda. Mas sua saúde já vinha dando sustos, apesar de sua resiliência. Na virada entre a primeira e a segunda década do século 21, passou por três anos traumáticos, em que sofreu ataque cardíaco, um câncer (que foi a causa de sua morte agora) e um derrame cerebral o deixou sem poder falar por um tempo. Recuperou-se de tudo isso e voltou à ativa por volta de 2012.
Aos leitores que dominarem o inglês, sugerimos rever esse webinar que ele fez para a MIT Sloan Review americana em janeiro de 2017, para discutir o motor de criação de negócios que as empresas devem desenvolver. No webinar, Christensen diz que toda empresa deve preferir criar novos modelos de negócio do que dar uma arrumada nos modelos existentes. Dá para notar que, em determinado momento, ele se esquece de uma palavra simples – “esforço”. Nem por isso, deixa de ensinar lições valiosas para a audiência.
Para homenageá-lo, mas, principalmente, para ajudar os leitores que ainda não aproveitaram realmente suas ideias, fizemos um “top 10” de suas contribuições para o mundo dos negócios.
1. Ele colocou o holofote sobre o papel da tecnologia nos negócios. Foi quando nos ensinou, que a aplicação insuficiente, ou errada, das novas tecnologias pode levar ao fracasso até mesmo as melhores empresas. Uma das ideias-chave do livro Dilema da Inovação: quando novas tecnologias levam empresas ao fracasso (Innovator’s Dilemma, em inglês), ideia “mind blowing” até hoje, é a de que nossos clientes costumam nos desencorajar a nos adaptar tecnologicamente – eles querem que nossas empresas foquem em criar mais valor para eles e ponto final, com zero interesse em alterar o sistema. Não são só os compromissos assumidos com os clientes; os fornecedores e até o próprio setor produtivo também dão uma sabotada na adaptação tecnológica das empresas, segundo Christensen.
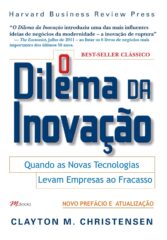
O paradoxo é que a verdadeira criação de valor depende de se adaptar às novas tecnologias, porque estas é que habilitam novos modelos de negócio e estes é que vão criar um valor novo e maior. Então, sem passar pela “dor” da disrupção, que significa de alguma maneira “trair” clientes e todos os stakeholders, não tem realmente ganho significativo.
2. Ele falou do inovador, mais do que da inovação ou das empresas inovadoras. Vários de seus livros, o idioma original, focam a pessoa que inova: _Innovator’s Dilemma, Innovator’s Solution_, _The Innovator’s Prescription_ etc. É claro que isso pode ser estendido para a equipe e o desenho organizacional, mas o fato de ele falar muito das pessoas dá uma noção de iniciativa empreendedora e empoderamento que, salvo engano, não existia antes no âmbito corporativo. Antes de Christensen, o comum era dizer “não consigo fazer isso, porque a burocracia impede”. Depois deles, existem precedentes – ou, para usar uma terminologia jurídica, há jurisprudência para quem prefere pedir desculpas depois mas não pedir licença antes. E cresce o número daqueles que fazem isso, aliás – até no hierárquico Brasil.
3. Ele difundiu e organizou o conceito “inovação de ruptura”. – (Também conhecido como “inovação disruptiva” ou “disrupção”, ambos neologismos anglicistas, que eu demorei mas aceitei. Alguns brasileiros adotam “disruptura”, só que esse eu acho pavoroso e me recuso a usar – risos.) Começou por distringuir dois tipos de disrupção:
(1) a feita pelas empresas novas entrantes em um mercado existente, que optam por atender uma parcela de clientes que já são servidos pelos concorrentes estabelecidos. Neste caso, o entrante tende a concorrer com uma estratégia de baixo custo ou um produto radicalmente diferente, modificando o próprio mercado (criando um novo mercado, de fato).
(2) a que cria um mercado novo de saída, no qual a concorrência é com o não-consumo. Neste caso, um produto é oferecido a pessoas que até então não eram consumidoras daquilo – muitas vezes, é um produto com uma qualidade inferior, mas a preço acessível. Aí a inovação está em toda a operação.
By the way, Christensen enxergava um potencial gigantesco para o segundo tipo de disrupção, pela grande quantidade de não-consumo existente. As fintechs agora andam aproveitando isso, inclusive.
Há o tipo de inovação associado às melhorias, extensões, variantes e reduções de custos em linhas de produtos existentes e sendo consumidas no mercado atual; é a inovação incremental, de eficiência, feita no curto prazo.
4. Ele nos ajudou a semi-ignorar a análise financeira tradicional para conseguir inovar. Isso vai gerar polêmica, eu sei, até por ser uma lição que muitas empresas ainda não aprenderam – no mundo inteiro. Christensen explicava que é um erro comum desenvolver um produto habilitado por uma tecnologia e ir vendê-lo para clientes tradicionais, como manda a análise financeira tradicional. Segundo esta, os gestores têm de estudar apenas os custos marginais e decidir em função deles, o que os leva a preferir utilizar uma capacidade ociosa a iniciar uma nova unidade para atender a um novo mercado. Christensen dizia e repetia que as melhores oportunidades estão nos menores mercados, indo contra essa lógica.
5. Ele popularizou o conceito de jobs to be done (JTBD). Se a gente olhar historicamente, essa expressão foi verbalizada pela primeira vez por Theodore Levitt e associada às necessidades do cliente pelo grande Peter Drucker. Mas se você perguntar por aí, 9 entre 10 pessoas familiarizadas com o conceito vão atribuí-lo a Christensen, e não à toa. (E 5 entre 10 pessoas não estão familiarizadas com o conceito ainda no mundo, sendo um percentual até um pouco mais alto no Brasil talvez.) Christensen, com seu exemplo de milk-shake, tornou-se o mestre jedi do JTBD, que, sabemos, pode ser a virada de chave para qualquer empresa.
Como uma rede de _fast-food_ busca entender qual trabalho as pessoas queriam que o milk shake executasse para elas? Uma rede norte-americana, com presença no Brasil, fez isso, orientada por Christensen. Seus gestores (com os consultores) começaram a acompanhar as vendas numa determinada loja e perceberam que a bebida era muito vendida pela manhã. Observando mais de perto, descobriram que eram os consumidores que faziam longas viagens para chegar ao trabalho que mais consumiam a bebida – eles o faziam enquanto dirigiam seus carros. O milk shake dá para tomar lentamente, porque é denso, certo? Isso impedia que sentissem fome durante toda a manhã sem precisar comer nada mais, isso os distraísse durante a viagem e – afinal – era gostoso.
Aí os gestores também perceberam que os milk shakes eram vendidos nos finais de semana, principalmente para crianças e de tarde, antes do jantar (americanos jantam cedo, como sabemos). Os pequenos não conseguiam tomar a bebida inteira, e parte dela sempre era jogada fora, o que impacientava os pais.
Assim, a rede de fast food descobriu dois jobs to be done para o milk shake: para profissionais apressados, era um café-da-manhã “para viagem”; para crianças, era uma guloseima de fim de semana.Como inovaram diante dessas descobertas? Colocaram uma vending machine do lado de fora do restaurante, para poupar o tempo dos viajantes, e diminuíram os copos para as crianças. Coisas simples, mas que aumentaram muito as vendas. Como dizia Christensen, consumidores não compram produtos ou serviços; eles contratam um trabalho a ser feito. Empresas como Amazon, Intuit, Uber, Airbnb e o iogurte Chobani (não tem no Brasil) entenderam isso espetacularmente, segundo ele.
6. Eles explicou que a empresa que quer inovar tem de se dividir em duas. Hoje quase todo mundo diz isso, mas ele parece ter sido o primeiro que o disse. (Ao menos, foi ele que difundiu a ideia, com certeza.) Essa é a solução para resolver a sabotagem listada no primeiro item: montam-se duas organizações distintas, com dois modelos de negócio separados e duas cadeias de valor igualmente separadas. Uma se dedica ao negócio existente, outra ao negócio emergente. Ele descreveu isso no livro _The innovator’s solution_. “Se eu digo a um cliente que é necessário ele montar uma nova equipe de vendas para vender um produto inovador, porque os antigos funcionários não saberão como fazê-lo, ele me diz que isso é caro; o mesmo acontece se eu digo que ele precisa de uma nova marca, porque a marca tradicional não serve para uma ruptura. Porém, uma pequena empresa, sem dinheiro nenhum, faz tudo isso”, relatou o professor. Ou seja, o melhor é montar a tal pequena empresa do zero, com estratégia própria, cultura própria, processos próprias e sem interferência da empresa-mãe.
7. Ele não tinha medo de tempo feio, ou seja, não temia economia ruim, recessão, crise. Bem ao contrário, na verdade: Christensen achava que momentos como esses eram os ideais para fazer as maiores inovação disruptivas. A lógica dele desagradava alguns, mas era implacável, como disse à MIT Sloan Review da primavera de 2009: “quando as empresas têm mais dinheiro para gastar, elas ficam perseguindo a estratégia errada por um longo tempo. Só a maioria das inovações bem sucedidas começam na direção errada – 93% começam na direção errada, segundo as estatísticas. A probabilidade de acertar de primeira é bem baixa. Então, é preciso ter uma pressão para mudar logo de direção”. A pressão é ter pouco dinheiro.
8. Ele entendia que uma empresa não existe no vácuo, independente de seu país. Isso é bem importante, porque reforça que os gestores da empresa devem ter um papel de ajudar o país, para que este tenha um melhor ambiente de negócios. O que me chamou a atenção para isso foi um texto Silvio Meira, publicado na revista HSM Management em 2013. Escreveu Silvio: “Clayton Christensen fez a pergunta do ano antes da eleição norte-americana em 2012: ganhe quem ganhar, quando é -mesmo, e sob que condições- que a economia vai voltar a crescer?… A pergunta é fundamental para qualquer país, em qualquer estágio de desenvolvimento e performance, pois crises econômicas são parte de ciclos de longo prazo e, mais cedo ou mais tarde, hão de ser tratadas em todo lugar. E deveria ser reflexão obrigatória, de candidatos a empreendedor a membros de todos os poderes (e não só o executivo), pois é nas condições que ações e omissões do Estado impõem à sociedade, que está boa parte do suporte à inovação. Ou da falta dele, como é o caso nos EUA e no Brasil”. O texto se explica melhor: “Há quem duvide do papel do Estado na inovação e empreendedorismo, como se estes ocorressem num vácuo político, social e econômico. O livro _Innovation: the Missing Dimension_, mostra o contrário: boa parte da inovação e empreendedorismo, especialmente quando capaz de (re)criar o desenvolvimento econômico e social de longo prazo e em larga escala, depende fundamentalmente de políticas públicas”.
As inovações de longo prazo são extremamente importante. Isso, porque, como diz Silvio citando Christensen, “inovações de curto prazo liberam capital empatado em processos ineficientes e as de médio prazo são um ‘jogo de soma zero’, pelo menos do ponto de vista de geração de trabalho ‘novo’ para sua realização”.
Ou seja, o fato de o Brasil não ter um pensamento estratégico nacional para inovação de longo prazo é um desastre.
9. Ele posicionou a inovação como a melhor maneira de combater a desigualdade socioeconômica no mundo. Para Christensen, ainda me apoiando no texto de Silvio Meira, os projetos “Robin Hood” de muitos governos, ao taxar os ricos e distribuir o resultado aos menos favorecidos, são voos de galinha: ao criar a ilusão de “melhora” da economia, pelo aumento do consumo imediato, as medidas escondem os problemas reais, a ineficiência e a ineficácia do sistema de regeneração econômica. E que estes só serão resolvidos pela via, quase certamente única, das inovações radicais, de muito longo prazo,
Para países como o Brasil, Christensen sugeria o investimento em energia verde, como um mecanismo de inovação que iguala o jogo. Com os coautores Efosa Ojomo e Karen Dillon, ele escreve _The Prosperity Paradox_ , que fala muito disso. Queria tanto que os autores das políticas públicas brasileiras lessem!
10. Ele formava as pessoas, trabalhava em equipe. É uma grande lição para o Brasil, já que os livros brasileiros de negócios em geral são de um só autor. Christensen sempre se fazia acompanhar, seja de Efosa Ojomo e da editora Karen Dillon (com quem também escreveu obestseller How Will You Measure Your Life?), seja com outros tantos coautores. Além disso, ele era um mentor generoso, como de Rita McGrath, uma expoente da nova geração de pensadores da gestão.
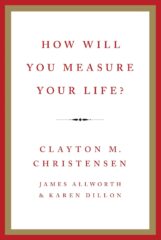
PARA TERMINAR
Por ironia do destino, ou metalinguisticamente se considerarmos todos os seus problemas de saúde, um dos últimos livros de Christensen foi sobre inovação no setor de healthcare. Ele aplicou seu tripé e disse que as novas tecnologias habilitadoras, com entendimento do genoma, mudam completamente o jogo nesse mercado, viabilizando que fornecedores de baixo custo ofereçam serviços mais e mais sofisticados. Democratizando a saúde, que é o que interessa. Nem preciso dizer que Christensen era fã de coisas como as clínicas médicas instaladas dentro de redes de farmácias como a CVS nos Estados Unidos, preciso?
Ah! Clayton Christensen não era ligado à MIT Sloan School of Management, e sim a Harvard Business School, mas era nosso vizinho querido. Atravessava o rio com frequência em Cambridge, Massachusetts, e tinha um DNA bem MIT, se me permitem dizer. Vá em paz, Professor!”
Leia também

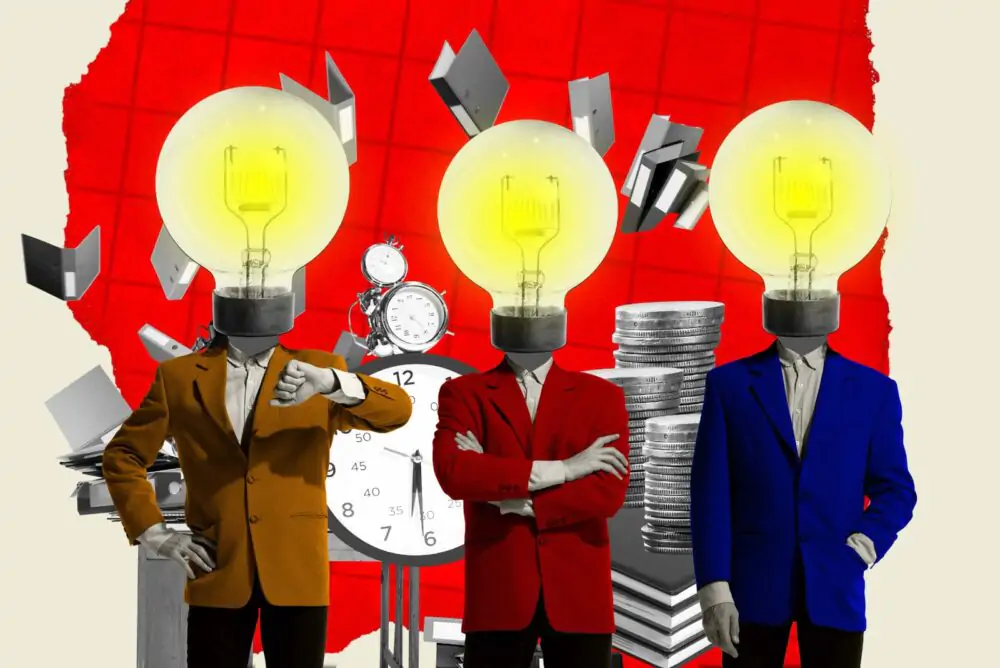
Tech-driven strategy: por que a tecnologia deixou de ser suporte e virou a própria estratégia

Como o CESAR se reinventou com o venture building

Como se proteger em alianças que desandam

Como o design thinking híbrido encurta distâncias

Inovadores outsiders: o que aprender com eles
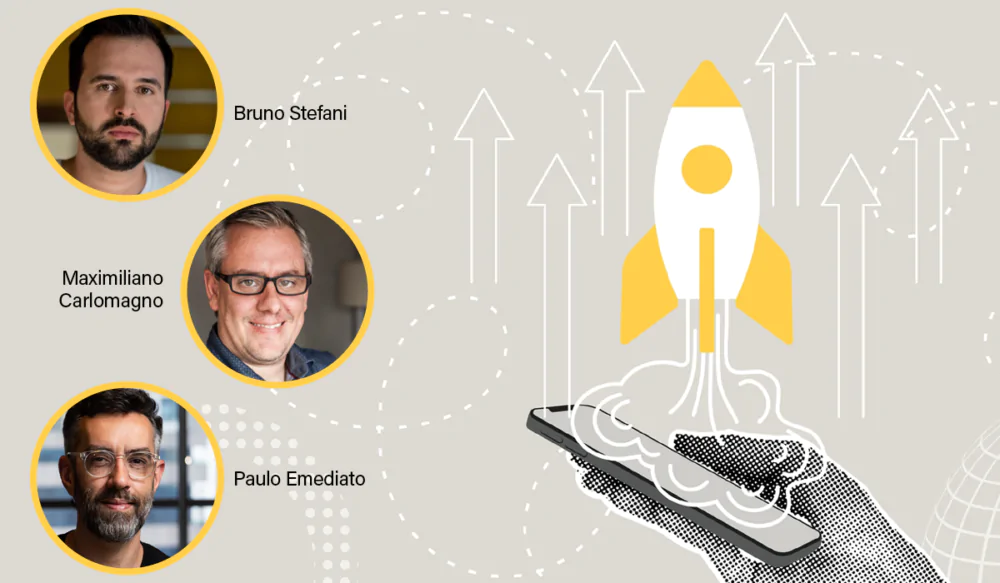
O Brasil segue na contramão – e o problema é de gestão

O futuro da saúde está em tirar os hospitais do centro do atendimento
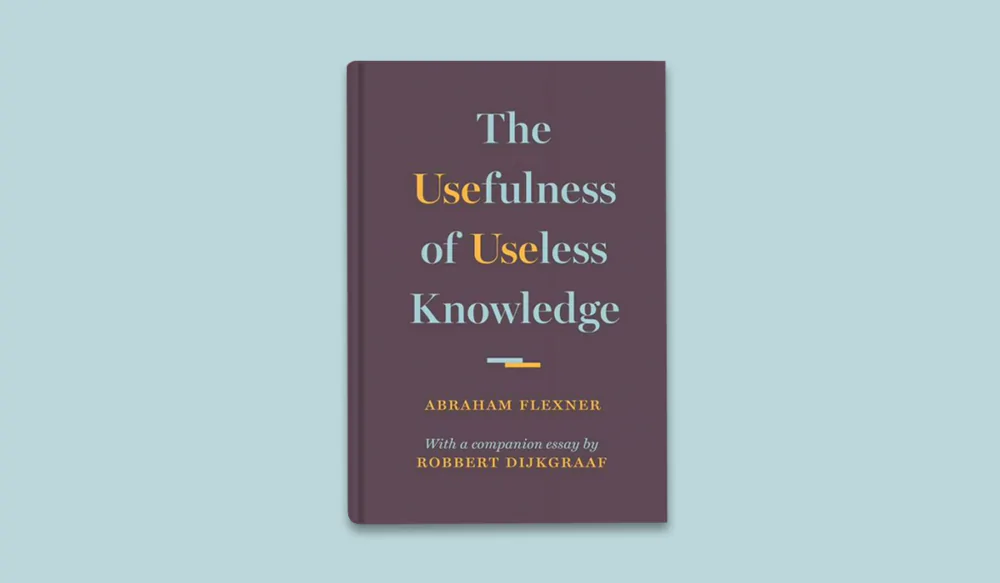
A utilidade do conhecimento inútil, inclusive no Brasil