
Consciência artificial: um universo dentro da máquina
Por mais qualificada que seja uma IA, nenhuma máquina projetada ao consciente alcançará a presença da mente humana e seu comprometimento existencial
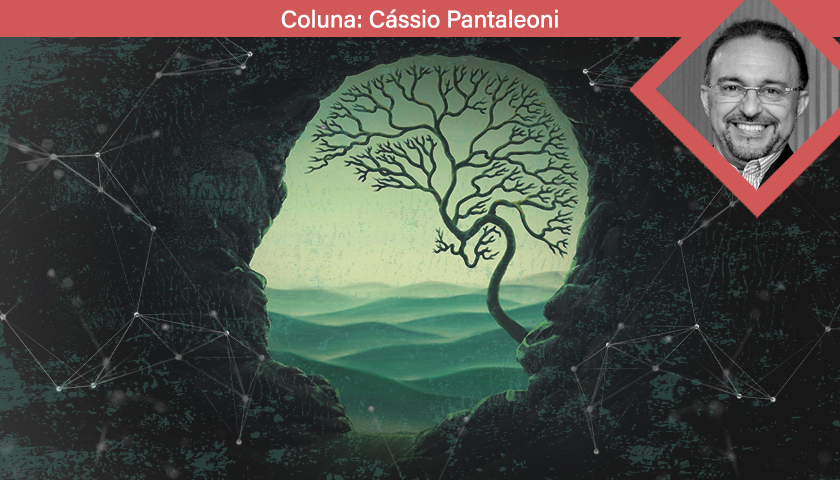
Com os avanços nos estudos da IA (inteligência artificial), grandes empresas do setor da tecnologia mantêm núcleos relevantes de inovação e pesquisa. O intuito é aperfeiçoar abordagem, recursos e técnicas para dotar as máquinas de características humanas, como empatia, senso de humor ou traços de personalidade. Entretanto, as conquistas anunciadas até então são incipientes.
Quando se discute a possibilidade de prover às máquinas uma consciência artificial, estamos lidando com complexidades similares às viagens na velocidade da luz. Há muitas incertezas no horizonte destas possibilidades. Mas enquanto na física quântica temos modelos matemáticos logicamente constituídos, no que diz respeito à compreensão do que subsidia o acontecimento da consciência, todos os conceitos estão em falta com os fundamentos disponíveis.
Stanislas Dehaene, pesquisador de neurociência cognitiva no College de France e autor de “Consciousness and the brain”, esclarece que a questão da consciência, durante todo o século 19 e 20, esteve fora dos domínios da ciência tradicional. Uma significativa parte dos fundamentos encontrados até ali foi formulada a partir de reflexões especulativas. Era matéria inescrutável pela experimentação objetiva. Somente depois de 1980 é que o problema foi retomado nas frentes de pesquisa da neurociência.
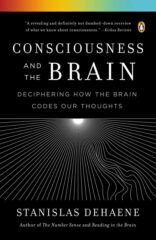
O assunto ainda suscita muita discussão. “Alguns filósofos, porém, ainda creem que o núcleo do problema da consciência reside no que eles chamam de ‘atenção fenomenológica’, uma espécie de senso intuitivo”, explica Dahene – uma alusão ao fato de que a aspereza de uma superfície ou a cor esverdeada de uma folha nova causam experiências internas particulares para diferentes indivíduos.
Diante de tantas questões em aberto, a mais desafiadora é: será que um dia as máquinas alcançarão qualquer coisa que se aproxime da consciência artificial?
27 anos em coma
Munira Abdulla, uma cidadã dos Emirados Árabes, feriu-se gravemente em um acidente de carro. O choque contra um ônibus provocou significativas lesões cerebrais na mulher que então contava com 31 anos. Ela entrou em coma logo após ser internada. Pouco tempo depois, sua condição foi categorizada como vegetativo-inconsciente. Embora fosse capaz de sentir dor, não havia qualquer traço de consciência.
Apesar de todos os tratamentos a que foi submetida, em vários hospitais e em diferentes países, seu quadro geral permaneceu imutável por 27 anos. Porém, em 2018, após uma discussão protagonizada pelo seu filho dentro do quarto do hospital, a mulher foi acometida de uma agitação incomum. Três dias depois, ela despertou do coma.
O caso de Munira exige reflexões elaboradas. Veja, em uma existência de incomunicabilidade generalizada é bastante difícil afirmar que um indivíduo esteja consciente ou não. Sob o ponto de vista de quem a observou naquela condição vegetativa-inconsciente durante os anos, parece bastante aceitável assumir que ela, sempre esteve presente, sempre esteve “ali”. Porém, do ponto de vista dela (metaforicamente, pois ela não pode ter um ponto de vista em coma) ela simplesmente não esteve presente durante vinte e sete anos.
Do momento do acidente até o despertar do coma, Munira resumiu-se a um recipiente vazio. Havia um corpo funcionalmente adequado, mas com nada embarcado. Dado o seu estado vegetativo-inconsciente, ela era como um barco à deriva, uma nau pronta para singrar os mares do tempo – o tempo da vida – mas sem tripulação: faltava-lhe presença.
Este é o argumento essencial. Para afirmarmos que um indivíduo está consciente, a referência que temos é a sua presença. Em termos científicos, isto significa dizer que o córtex cerebral se encontra ativo e respostas compatíveis são produzidas a partir dos estímulos aos quais a pessoa está submetida. De certo modo, a consciência é o estado onde a presença ocupa a nossa nau – o cérebro. Ocupar não significa o mero habitar; é antes manter ativo o uso dos recursos cerebrais.
A caixa do universo
O filósofo alemão, Thomas Hetzinger, em seu livro “The ego tunnel”, explica que esta experiência de estar “aqui e agora” dá-se pela combinação das representações que fazemos do mundo com as que fazemos sobre nós mesmos. Quando presentes, nós estamos no mundo e diante dele. Esta circunstância proporciona uma imagem de nosso corpo, de nosso estado psicológico, de nossa relação com o passado e com o futuro, e com outros seres conscientes.
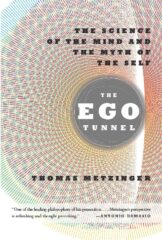
Esta não é propriamente uma concepção nova. A ideia já aparecia na abordagem fenomenológica de Martin Heidegger, outro filósofo alemão, no seu livro “”Ser e Tempo“”, de 1927. Para Heidegger, a presença é ser-aí, é o acontecimento do ser no mundo e diante do mundo. Assim, podemos entender a consciência como a constatação de que somos, do modo que somos, pelo caráter fenomenológico de ser “aí e agora”.
Quando assumimos o ponto de vista da neurociência, podemos entender o cérebro como uma “caixa” configurada para acomodar este fenômeno da consciência e, assim, habilitar a experiência de um universo onde o centro é o eu – a experiência subjetiva. Esta pequena caixa, de conexões sinápticas operadas através de bombas de íons de sódio e potássio, inaugura universos sempre e toda a vez que a consciência está ali, presente.
Universos sonhados
Contudo, estar consciente não necessariamente exige estar desperto. O professor de Psicologia e Neurociência da Princeton University, no livro “”Rethinking Consciousness“”, esclarece que a consciência opera como uma “máquina de atenção”: algo que acontece como experiência subjetiva e que dirige o nosso foco para oportunidades de interação.

Quando sonhamos, também temos uma experiência subjetiva e nossa atenção se dirige para o conteúdo do sonho, interagindo com os objetos e sujeitos ali contidos.
Isto pode parecer contra intuitivo, porque acreditamos que a consciência depende dos sentidos, sofisticados dispositivos que produzem uma infinidade de sinais que são processados no cerebelo. Mas não é bem assim. Durante os sonhos, a consciência parece exigir apenas as memórias dos sentidos, não os sentidos imediatamente dados pela percepção em vigília.
Não é uma questão de quantidade
Para complicar as coisas, é preciso entender que o nosso cérebro abriga, em média, cerca de 86 bilhões de neurônios distribuídos em diferentes estruturas. O cerebelo – uma estrutura pequena e compacta localizada na fossa craniana posterior – possui cerca de 70 bilhões do total disponível no cérebro inteiro. Já o córtex – que compreende a massa cinzenta – detém apenas 16 bilhões.
Paradoxalmente, o cerebelo tem pouca relação com o fenômeno da consciência. A ciência hoje sabe que é no córtex cerebral que se dá sua manifestação. Tal constatação reforça o fenômeno que ocorre em nossos sonhos, onde uma experiência subjetiva – o eu que o protagoniza – interage com um universo de entidades oníricas de maneira muito semelhante quando em estado de vigília.
Mas no caso de Munira, o que ocorre exatamente? Onde esteve sua consciência durante os seus 27 anos de coma? Ela realmente estava inconsciente? Ela sonhou? A pergunta é retórica. Não pretendo respondê-la aqui. Há outros prismas em jogo.
Máquinas subjetivas
Os cientistas Marcello Massimini e Giulio Tononi, autores de “Sizing Up Consciousness”, destacam que ainda não possuímos instrumentos para distinguir se indivíduos na condição de incomunicabilidade generalizada – como no coma de Munira – estão sustentando qualquer universo em seus cérebros, ou seja, se estão conscientes ou não.
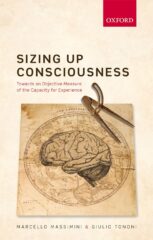
Como poderíamos, então, constatar que uma máquina “experimenta” uma consciência, ainda que fossemos capazes de desenvolver algoritmos que viabilizassem o fenômeno?
Para nos aproximarmos de qualquer resposta plausível, antes devemos investigar outras questões em aberto:
1. Como concederíamos às máquinas os recursos para que elas reconhecessem um objeto como parte de um mundo de objetos?
2. Como implantaríamos a intencionalidade?
3. Como tornaríamos possível que ela distinguisse entre aparência e realidade?
4. Como instanciaríamos nas máquinas a diferença entre elas e o mundo?
5. Como provocaríamos o surgimento de um eu artificial, a simulação de uma experiência subjetiva?
Todas estas questões flertam com um tema essencial: o conceito de submissão.
Jogo de interesses
No livro “The promise of Artificial Intelligence”, o professor Brian Cantwell Smith, titular da cátedra de Inteligência Artificial e Humana da University of Toronto, explica: “Não basta o sistema ser capaz de distinguir aparência da realidade; de modo a referir ou orientar-se em direção ao objeto, o sistema deve se submeter ao objeto”.
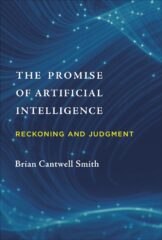
O que Smith quer destacar é que sempre que a representação de um objeto e a realidade deste objeto compartilham do mesmo espaço de entendimento, a realidade deve vencer. Em suma, para lidar com o mundo dos objetos a máquina precisaria distinguir aquilo que interessa.
Submissão, neste caso, não fala de uma condição de obediência voluntária, mas, antes, de uma sujeição àquilo que está em jogo (o comprometimento existencial). Do contrário, perdemos o mundo; e como explica Smith: “a ameaça de perdermos o mundo é mortal”.
Zumbis
O paradigma atual da IA promove avanços importantes para que as máquinas sejam capazes de executar funções especialistas com grande precisão. Os sistemas de IA operam com eficiência incomparável, processando milhões e milhões de dados com o objetivo de alcançar o resultado para o qual foram projetados.
Contudo, as máquinas e os sistema de IA não se importam com nada disso. Não há comprometimento existencial. Por consequência, não há consciência.
Quando me perguntam como eu vejo a IA, antes de responder sempre me vem a imagem do seriado americano “”The Walking Dead“”. Os zumbis movimentam-se na direção de seu objetivo, mas não tem a menor ideia do que estão fazendo. E mesmo quando perdem um membro ou o tronco inteiro, o objetivo se mantém: alimentarem-se de quaisquer seres vivos que apareçam à sua frente.
É tão artificial
O aspecto paradoxal desta discussão, que articula a possibilidade de implantarmos nas máquinas algo como uma consciência artificial, reside exatamente na expressão artificial.
Como seria um sonho artificial em uma máquina com consciência artificial? Como seria uma experiência subjetiva artificial? Poderíamos imaginar uma máquina com medo artificial, ou com alegria artificial? Que tal concentração artificial ou ainda distração artificial?
Como já escrevi em outros artigos, o artificial refere um simulacro, um artífice. Por mais sofisticada que seja a inteligência artificial, ao ponto de nos convencer pelo seu comportamento manifesto que ali haja algo como uma consciência, seja lá o que for que esteja embarcada nessa nau de partículas de silício e fibras de carbono, definitivamente não será nada como o que opera na mente humana.
É como o ventríloquo e seu boneco: a gente presta atenção no boneco, mas o surpreendente é o humano por detrás da marionete.”
Leia também


O futuro da saúde está em tirar os hospitais do centro do atendimento

Conhecimento é poder? Hoje, só com letramento em IA

O que o mito da garagem não ensinou aos empreendedores

O império da personalização – e o que vem depois

Inteligência artificial: para onde caminha a humanidade?

Tecnologia para além do hype

Os desafios da identidade descentralizada

Federação de dados: associe-se a outras empresas e obtenha o melhor de sua IA

