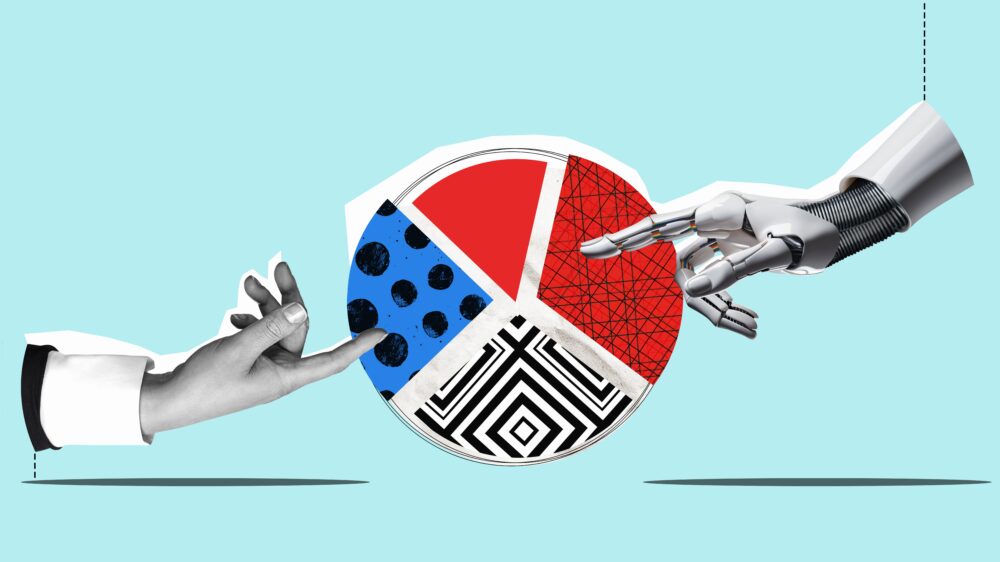Superinteligências, espaço e tempo
Quer entender filosoficamente se os futuros previstos a partir da atual revolução digital fazem sentido? Comece por entender que a tecnologia pode até conceber máquinas mais desenvolvidas intelectualmente dos que os homens, mas só os homens possuem a compreensão de espaço e tempo

O escritor americano F. Scott Fitzgerald escreveu: “O teste de uma inteligência de primeira linha consiste na capacidade de manter em mente duas ideias opostas simultaneamente e ainda assim conseguir funcionar”.
Enquanto o mundo da tecnologia debate a possibilidade de se conceber máquinas superinteligentes, muitos amigos me confidenciam seu entusiasmo com o modo pelo qual a revolução digital e a IA são fundamentais para que, enfim, tenhamos nossa inteligência mais desenvolvida.
Os antigos livros de ficção previam que a evolução de nossa capacidade mental, com habilidades muito além das atuais, levaria ao crescimento do nosso cérebro. Não raro encontrávamos caricaturas de seres do futuro com uma cabeça bastante desproporcional.
Curiosamente, nada disso acontece. Pelo contrário, ao invés de desenvolvermos capacidades mais sofisticadas, estamos “terceirizando” para as máquinas algumas destas capacidades. A IA que automatiza e otimiza tarefas repetitivas nos desonera substancialmente. Nem necessita tanta inteligência assim para fazê-lo, apenas a capacidade de lidar com volumes gigantescos de dados.
A relação espaço e tempo nas máquinas
Nos meus lugares preferidos, onde vez ou outra eu me reservo o direito de refletir sobre abstrações ou questões humanas, eventualmente penso nesta condição humana: um ser distraído que vive encapsulado pelo espaço e pelo tempo. Esse pensamento é recorrente e já foi até insumo de um debate com um grande amigo.
Recordo que certa vez ele afirmou sua convicção de que não existiam distâncias, mas apenas o tempo. Meu contraponto foi imediato: não existe tempo, senão distâncias.
A contradição dessas duas afirmações parece-me evidente. Elas flertam com dois conceitos decorrentes do modo como nós, com os recursos de nosso corpo e de nossa mente, percebemos o mundo.
Quando pesquisadores e cientistas da computação debatem a possibilidade de dar às máquinas algo que possa ser considerado uma superinteligência, eles tomam o paradigma da própria computação como princípio, como se o cérebro fosse um hardware onde rodaria o software da inteligência, o da consciência, o do comportamento, etc. Predomina, talvez de maneira inconsciente, a ideia aristotélica do logos (a lógica) que se apresenta como meta ta hodos (“methodos” ou via de acesso) ao cosmos (os objetos do mundo). Ou seja, esses pesquisadores e cientistas almejam descobrir a lógica enquanto via de acesso ao mundo dos objetos, que poderá enfim replicar nas máquinas o fenômeno da consciência.
Se algum dia pudermos dar às máquinas este logos artificial com a velocidade quântica de processamento, hipoteticamente poderemos alcançar eficiências maiores do que aquelas de que a mente humana comum é capaz.
A pergunta que me distrai, no entanto, é: como o nosso logos apreende tempo e espaço? De que modo se estabelece a compreensão original de que a distância entre sujeitos e objetos exige tempo e vice-versa?
Alguns poderão considerar que, desde Newton, não temos mais dificuldade em entender como tempo e distância (espaço) basicamente se relacionam. Porém, para desenvolver ou entender a física newtoniana, é preciso antes ter uma compreensão prévia de espaço e tempo. Como se dá tal concepção prévia?
O conceito de espaço é fundamental tanto para pensar o universo quanto para lidarmos cotidianamente com as coisas do mundo. Os objetos se destacam no espaço. Estão ali, delineados pelo espaço entre eles. Sem espaço, haveria o colapso de todos os objetos num único objeto, como uma singularidade semelhante àquela referida pelos físicos, o big bang. Nem nós escaparíamos num cenário assim. Mas, para conseguir imaginar esse colapso referido como singularidade do cosmos, precisaríamos de uma concepção prévia de tempo.
O conceito de tempo (cronos) é fundamental para o caráter existencial do ser humano. Em certo tempo nascemos, em certo tempo atuamos no mundo, em certo tempo morremos. Com a nossa morte, morre o tempo. Se não houvesse o tempo, nosso pensamento tomaria o mundo como uma fotografia e não como um filme em que protagonistas e coadjuvantes coabitam, deslocando-se no espaço entre as coisas do mundo.
O espaço substancia a concepção de mundo e o tempo substancia a concepção de existência. Afirmar que não existe distância, apenas tempo, é tão absurdo como afirmar que não existe o tempo, apenas distância. É como imaginar o universo sem a existência ou a existência sem o universo. Em ambos os casos, o logos desaparece, perde o sentido. Como poderia haver lógica sem tempo ou mundo?
Contudo, se usamos o logos para pensar o fenômeno do acontecimento do próprio logos na nossa existência no mundo (em termos heideggerianos, o ser-no-mundo), precisaríamos considerar um fenômeno a priori que nos daria a concepção prévia de tempo e espaço. Particularmente, defino essa concepção prévia não como algo que se dá pela lógica do pensamento. Na verdade, nem se trata de produzir uma concepção prévia. É antes o que denomino a emergência originária do sentido da diferença. Confuso? Eu explico.
Diferença, aqui, deve ser entendida como a dualidade simultânea que caracteriza, de um lado, a existência (ou o self, o ser, o eu, o sujeito, o logos), e de outro, o universo (ou o mundo, os objetos do mundo, o cosmos). A existência deve ser entendida como a casa, a moradia, a habitação do tempo, e o universo, como a casa, moradia, habitação do espaço. Ali onde se vê a existência habita o tempo; ali onde se vê o mundo habita o espaço. Assim se faz notar a diferença.
Já o sentido deve ser entendido não como um “significado”, mas como aquilo que é efetivamente sentido pela existência. Não me refiro, no entanto, ao “sentido” como algo que é “percebido”, pois isso implicaria a ação do logos no a priori do logos, no “antes” da lógica. Falo do sentido como uma “perturbação”, um estranhamento que se dá na existência pelo simples fato dela estar submetida ao mundo, quase como que vulnerável ou aberta (referindo Heidegger outra vez) para o mundo.
Assim, o sentido da diferença deve ser entendido como o acontecimento de uma perturbação existencial, o evento que retira de nós – ou da existência – o caráter da totalidade e nos oferece em troca o estranho, o não familiar, o diferente. Seria como se subitamente sentíssemos que não somos tudo: há algo não familiar “do lado de fora”.
Esse acontecimento se dá como uma emergência, ou seja, algo que emerge da existência como algo incontinente e inadiável; acontece como o que se precipita, como um decaimento desta existência. Entretanto, tal emergência não se refere qualquer emergência que no curso da existência se dá, nos mais variados modos, como aspecto essencial do logos. Essa emergência é originária.
Para entender do que se trata o caráter originário, apelo para algumas palavras que possuem estrutura etimológica semelhante. Tomemos, por exemplo, as palavras aquário, aviário, receituário, mostruário etc. O que há de comum nessas palavras é o sufixo “-ário” que etimologicamente advém do termo latino “arius”, significando “relativo à” ou “ligado à”. Assim, entendemos aquário como “ali onde há água”, “ali onde sempre vigora água” ou “ali onde habita a água”; aviário como “ali onde há aves”, “ali onde sempre vigora aves” ou “ali onde habitam as aves”; e assim por diante. Originário, então, deve ser entendido como ali onde vigora a origem ou ali onde habita a origem. Esse “ali” se refere a nós.
A emergência originária do sentido da diferença pode assim ser entendida como o acontecimento de uma perturbação existencial que emerge dali onde vigora/habita a origem. Essa perturbação existencial acontece de ser como se simultaneamente sentíssemos na nossa existência que há espaço além de nós mesmos, além do que nos é familiar, e que há o tempo que faz vigorar este “nós mesmos” como existência, como uma incontinência que nos faz viver e ser vividos. É algo que simplesmente transborda, emerge, precisamente ali onde habita a possibilidade de dar origem a tudo que há – logos, cronos e cosmos.
De maneira muito rudimentar podemos entender que a emergência originária do sentido da diferença inaugura o que os cientistas cognitivos, filósofos da mente e neuroscientistas entendem como consciência, ou seja, foco atencional. Ao sentirmos pela primeira vez o espaço e o tempo, damos condições de possibilidade à existência para deslocar o foco de sua atenção para o mundo ou para si mesma, para o estranho ou para o familiar.
De repente, dá-se a possibilidade de lidar com duas ideias contraditórias: isto que nos habita e aquilo que nos dá habitação, isto que está dentro e aquilo que está fora, isto que está perto e aquilo que está distante, isto que está sempre comigo e aquilo que pode ser alcançado, isto que afirma e aquilo que nega. Trata-se do advento do logos, o caráter inaugural da lógica que toma cronos e cosmos como fundamentos.
Como poderíamos codificar, então, por meio de algoritmos (que nada mais são do que produto do nosso logos e que reproduzem o methodus do logos), a emergência originária do sentido da diferença que inaugura o logos? Porque, leitores, é preciso entender: essa emergência não se dá pelo caráter formal de uma lógica, e sim pela perturbação da existência, é sentido.
Uma criatura que compreende o espaço e o tempo
Quando aludimos às possibilidades de criar máquinas superinteligentes, de dotar a inteligência artificial de meios para simular a consciência – o foco atencional –, de modos para lidar com duas ideias contraditórias simultaneamente e ainda ser capaz de funcionar, fazemos alusão àquilo que é inalcançável pela lógica. É claro que o desafio nos motiva a investigar, pesquisar e pensar mais profundamente. Parece ser incrível que nós, humanos, poderemos um dia – quiçá – dar vida a uma criatura que compreenda o espaço e o tempo, sendo capaz de colocar foco atencional em um objeto específico do mundo ou em si mesma, ou ainda ser capaz de pôr o foco de sua atenção nos seus eventos passados ou projetar o futuro com a imaginação das possibilidades baseada na sua experiência própria.
E se tivermos capacidade de processamento de infindáveis dados na velocidade da luz? Não seria espetacular? Claro! É algo que nos transformaria em deuses. Será que um dia poderemos dar luz a uma criatura como essa?
Isso me lembra uma história que aconteceu há alguns meses.
Paulo, Manoela e Matheus
Em dada noite, Paulo e Manoela decidiram ter um bebê. A fecundação se deu algumas horas depois e os dois gametas formaram um zigoto.
Essa única célula, com DNA do Paulo e da Manoela, depois de 24 horas, se dividiu em várias outras, todas iguais. Até o momento em que se transformou em mórula, um agregado de corpúsculos.
Aproximadamente cinco dias depois, Manoela nem percebeu, mas a mórula se transformara em blástula, uma pequena esfera composta de células que formavam uma cavidade repleta de fluído proteico.
Daí em diante, as células começaram a se diferenciar, possibilitando o desenvolvimento dos diferentes órgãos do embrião. Mais ou menos na terceira semana, Manoela notou que sua menstruação estava atrasada. Ela ainda não sabia, mas seu embrião já tinha um sistema nervoso central. Na quarta semana, no dia em que ela disse a Paulo que ele ia ser pai, o coração do bebê começou a bater.
Eles esperaram nove meses para enfim conhecer o Matheus. Quando nasceu, é possível que o menino tenha sentido certa perturbação. Pode ter sido ali, naquele momento, que ele sentiu que havia algo além. Talvez espaço e tempo.
A obstetra entregou o bebê para Manoela. Com os olhos lacrimejados e um sorriso bobo, Paulo acariciou a mãozinha do seu filho, enquanto apertava a mão da mulher. O pequeno Matheus se movimentava e torcia a boca sem ainda entender que estava ali, diante de seus criadores. Manoela e Paulo se entreolharam. Os sorrisos denunciavam seu orgulho. “Sim, Matheus…”, eles pensaram, “nós somos deuses”.”
Leia também


Conhecimento é poder? Hoje, só com letramento em IA

O império da personalização – e o que vem depois

Inteligência artificial: para onde caminha a humanidade?

Tecnologia para além do hype

Os desafios da identidade descentralizada

Federação de dados: associe-se a outras empresas e obtenha o melhor de sua IA

Um guia prático para extrair valor dos LLMs

SLMs, nossa próxima fronteira