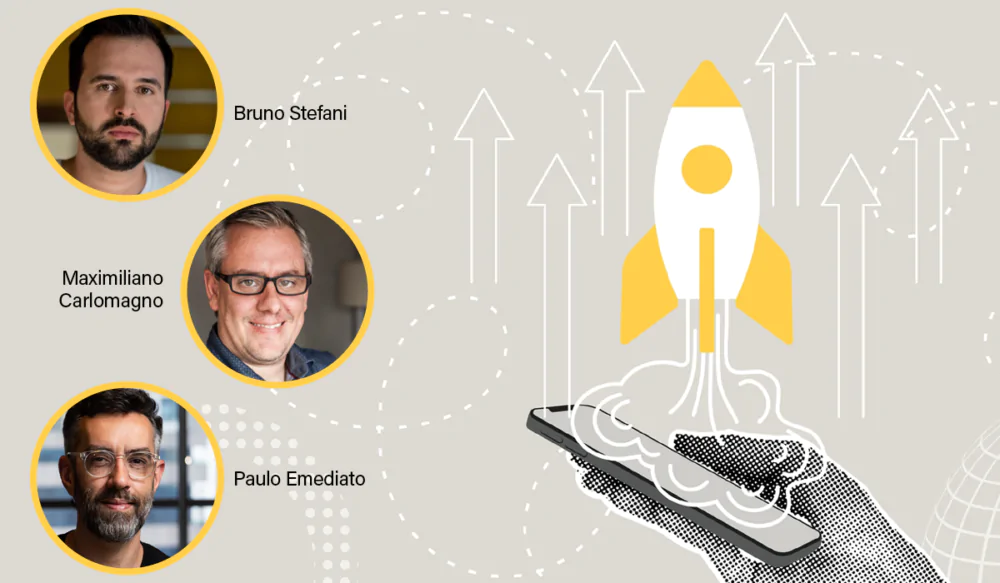
Abraços sintéticos, polarizações desnecessárias
Para abraçar a tecnologia - ainda que seja um abraço caloroso de uma máquina de pele sintética revestida de micro sensores de temperatura -, antes é preciso abraçar o humano, mesmo com o receio de perdê-lo

Chego em Edimburgo numa tarde fria de março, após um período de ausência imprevista, e encontro dois rostinhos inocentes me aguardando no desembarque. Ganho um daqueles abraços em que o valor não advém do gesto mecânico, como aqueles que seriam imitados por um robô. O calor do abraço nem mesmo decorre da temperatura do corpo, simulável com tecidos sintéticos energizados por microbactérias. Nem mesmo decorre da força infantil que aperta até o limite, artificializada por meio de aprendizado de máquina. Não.
O valor do abraço das crianças decorre da dinâmica entre as diferentes percepções que cada parte – eu e eles – nutre acerca do passado, do presente e do futuro. Uma trindade fenomenológica formada por memória, consciência e projeção. Este contraponto de percepções, no qual convivem teses e antíteses que sintetizam a experiência do encontro, estabelece-se como um ponto de equilíbrio entre o receio e o ímpeto de cada parte envolvida – o de perder e o de perpetuar.
Recentemente, lendo um estudo do Departamento de Ecologia Natural e Evolução da University of Washington, publicado pelo Prof. Lucas Weaver e seus colegas, descobri que possivelmente mamíferos de todas as espécies praticam o abraço (ou o aconchego) – o que o fazem há, no mínimo, 75 milhões de anos. O que nos permite inferir que não é preciso racionalidade (pelo menos, não a observada em humanos) para que a dinâmica entre o receio de perder e o ímpeto de perpetuar produza conforto.
Obviamente, isso instiga a imaginação. E, claro, questionamentos. Seria funcional o abraço entre entidades que não se importam em perder ou perpetuar? O instinto de sobrevivência e o imperativo da reprodução são facilmente observáveis em entidades biológicas (enquanto receio de perder a integridade e o ímpeto de perpetuar a bagagem genética). Mas o que dizer das entidades constituídas por inteligência artificial?
O dilema de humanizar o que não é humano
Na era dos sistemas de inteligência artificial – engendrados simulacros que aspiram à nossa capacidade de humanizar aquilo que não é humano –, nos colocamos diante da certeza de que a máquina haverá de nos servir, do mesmo modo que toda e qualquer tecnologia nos tem servido desde sempre. Talvez requisitemos abraços calorosos de máquinas de pele sintética revestida de micro sensores de temperatura, e isso nos seja, de alguma maneira, suficiente.
Mas julgo improvável que as máquinas desenvolvam o receio de perda de integridade ou algum tipo de ímpeto em perpetuar a sua “bagagem” tecnológica. Pelo menos, fora das telas dos cinemas. Na condição de entidades de inteligência artificial (IA), tudo aquilo que delas advém é um simulacro. A inteligência ou o indício de consciência artificial (ou mesmo senciência) é sempre uma mímica, uma aparência, que pode alcançar algum estatuto de similaridade com os humanos pelo fato de que nós, ao interagirmos com ela, emprestamos a nossa própria humanidade. Afinal, o olhar de um humano é humano – simples assim.
Nós vemos e interpretamos o mundo segundo o parâmetro humano. As máquinas falam, as máquinas se revoltam, as máquinas acertam, as máquinas pensam, as máquinas erram, as máquinas cansam, as máquinas ficam deprimidas, as máquinas não entendem e assim por diante. Todas estas descrições nos pertencem. Mas a realidade é que nada disso acontece com as máquinas – senão em nossa projeção. Não há melhor forma de representar o mundo do que a nossa imagem e semelhança.
Ao humanizá-las, estamos sujeitos à desinformação, falsificação, manipulação de opiniões, falácias, distorções e tantas outras categorias de conteúdos impostores, que contaminam nossas percepções e crenças. Tudo de tal modo que, mesmo um abraço artificial, será aceito como sentimento de pertencimento.
Quando a máquina deixa de ser o outro
Há uma metáfora cinematográfica que se ajusta bem a isso. No filme “Ela”, lançado em 2013, dirigido por Spike Jonze e protagonizado por Joaquin Phoenix, um escritor solitário compra um novo sistema operacional para seu computador. Para a sua surpresa, o protagonista acaba se apaixonando pela voz do programa de IA, dando início a uma história de amor incomum entre o homem contemporâneo e a tecnologia. É um abraço sintético, que desinforma, que falsifica, que distorce a realidade, mas que dá ao escritor a ideia de pertencimento.
Um aspecto fundamental da dinâmica representada em “Ela”, é que a IA não é o “outro” de uma relação normal entre humanos; ela é o “eu” do protagonista, assim projetado para fora de si. É a quebra do paradigma de que duas entidades que se comunicam em uma linguagem coerente existem como parte e contraparte. Porque, na verdade, não há nada ali senão o “eu”, alucinado de modo bipartido por conta de uma simulação esquizóide.
Em um mundo infestado de conteúdos digitais criados pelos recursos generativos da IA, a alucinação de que eles são autênticos apenas reforça o distanciamento entre os riscos de perda e os ímpetos de perpetuação de duas entidades humanas. Inevitavelmente, criamos uma polarização entre o “eu” e o “outro”, e todo aquele “outro” que não corresponda às nossas disposições, que não as reforcem continuamente, torna-se estrangeiro.
Diferente do abraço humano – que respeita as diferenças entre o “eu” e o “outro”, que almeja arrefecer este irrecusável receio de perder-se e a impetuosa disposição de perpetuar esta integridade do familiar, acolhendo a verdade do encontro –, o caráter servil da IA, humanizada por costume, nos encapsula numa irreal condição de suficiência, tornando o outro descartável.
Antes é preciso abraçar o humano
Por que deveríamos articular um papel socialmente ativo, diante de tantas diferenças de opinião, diante de tantos argumentos contraditórios, de tantos quereres e poderes, quando a máquina pode simular um amigo ou um parceiro que concorda com a visão de mundo individual de cada um? Por que interagir com outras pessoas de maneira ponderada, respeitando pontos de vista, quando podemos escolher uma IA personalizada, que afaga apropriadamente as nossas crenças e perspectivas?
A IA, na medida em que avance sem a necessária reconsideração crítica, sem uma educação de base que destaque a diferença entre entidades humanas e sintéticas, deverá condicionar nossas expectativas com respeito ao “outro” em níveis pífios. Tal condicionamento ampliará as polarizações entre o “eu” e o “outro”. O “outro” será remetido apenas à condição de plateia, de audiência, dispensando-o do papel de constituir a trindade fenomenológica formada por memória, consciência e projeção, que, até então, tem contribuído para o conceito de consciência ética e moral.
Quando inadvertidamente aludimos à ideia de que precisamos abraçar a tecnologia, esquecemos que a tecnologia não existe como entidade. Ela é um conceito, servindo à descrição de um produto humano. A tecnologia é parte integrante daquilo que nos constitui como entidades humanas. Ela é parte do nosso repertório comportamental de ser no mundo do modo que somos: tecnologicamente instrumentalizados.
Para abraçar a tecnologia, antes é preciso abraçar o humano, abraçar o “outro”, mesmo com o receio de perdê-lo. Pois o ímpeto de perpetuar o caráter integrado de nossos abraços pode subtrair os nossos descuidos polarizadores. Estamos juntos nesta jornada. Com ou sem IA.
Leia também
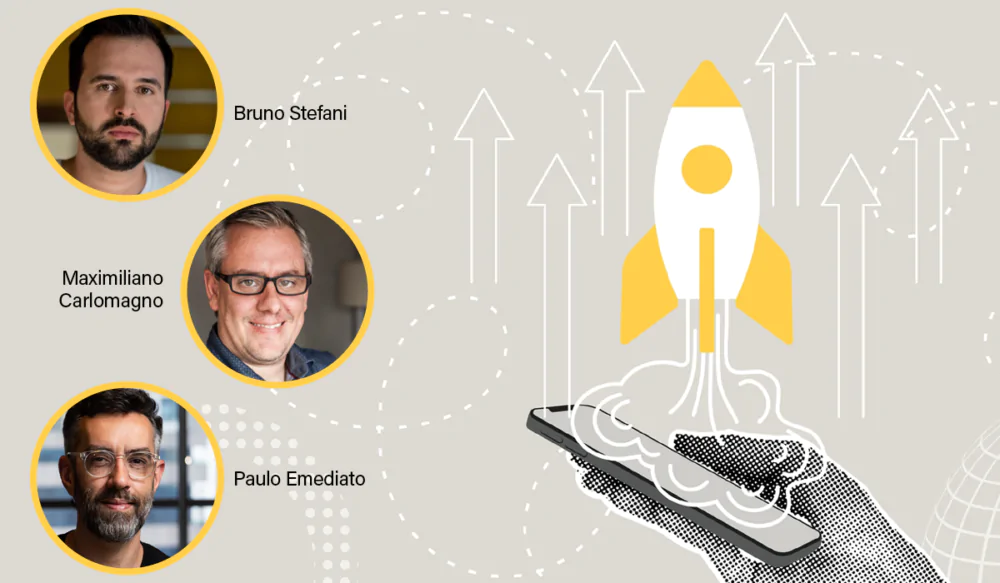

O futuro da saúde está em tirar os hospitais do centro do atendimento

Conhecimento é poder? Hoje, só com letramento em IA

Por um RH mais estratégico

Autoras do amanhã #2: “Liderança feminina: conectar, pertencer e impactar”, com Ana Fontes

Como jogar o jogo corporativo sem se perder no processo

Influência é uma via de mão dupla

O futuro vem do futuro #2: “Em transformação: a liderança no gerúndio”, com Daniel Martin Ely
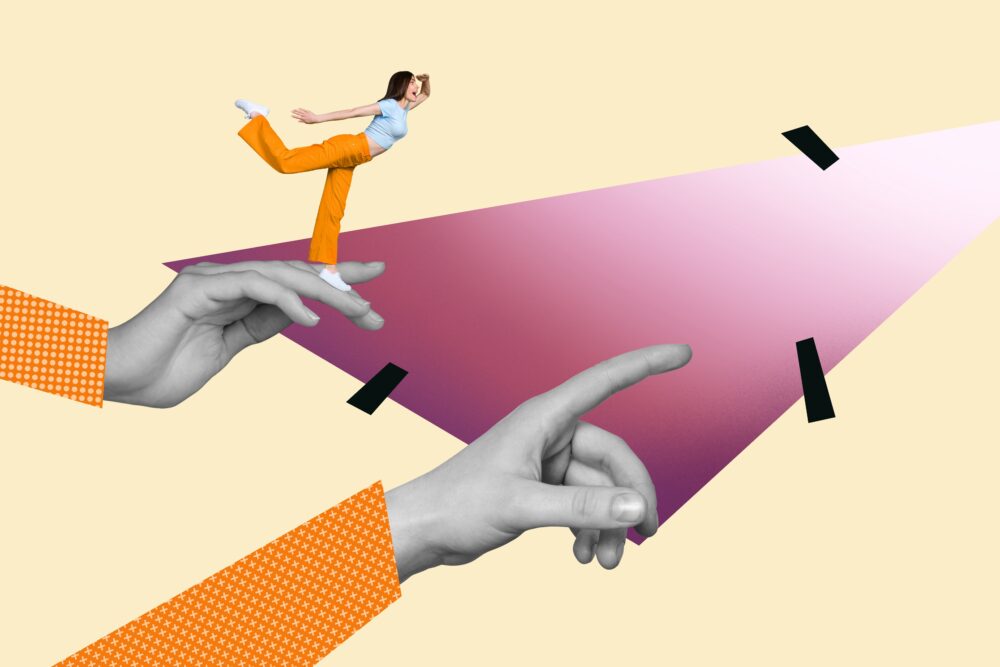
Visão sistêmica: como estruturar empresas para um futuro sustentável

