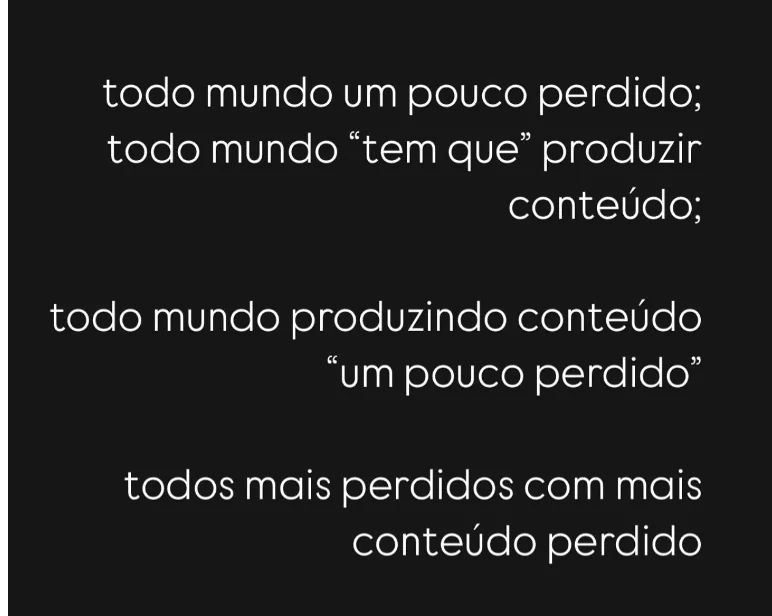O Brasil segue na contramão – e o problema é de gestão
Em entrevista tripla, os especialistas em inovação Bruno Stefani, Maximiliano Carlomagno e Paulo Emediato “tropicalizam” o Report especial
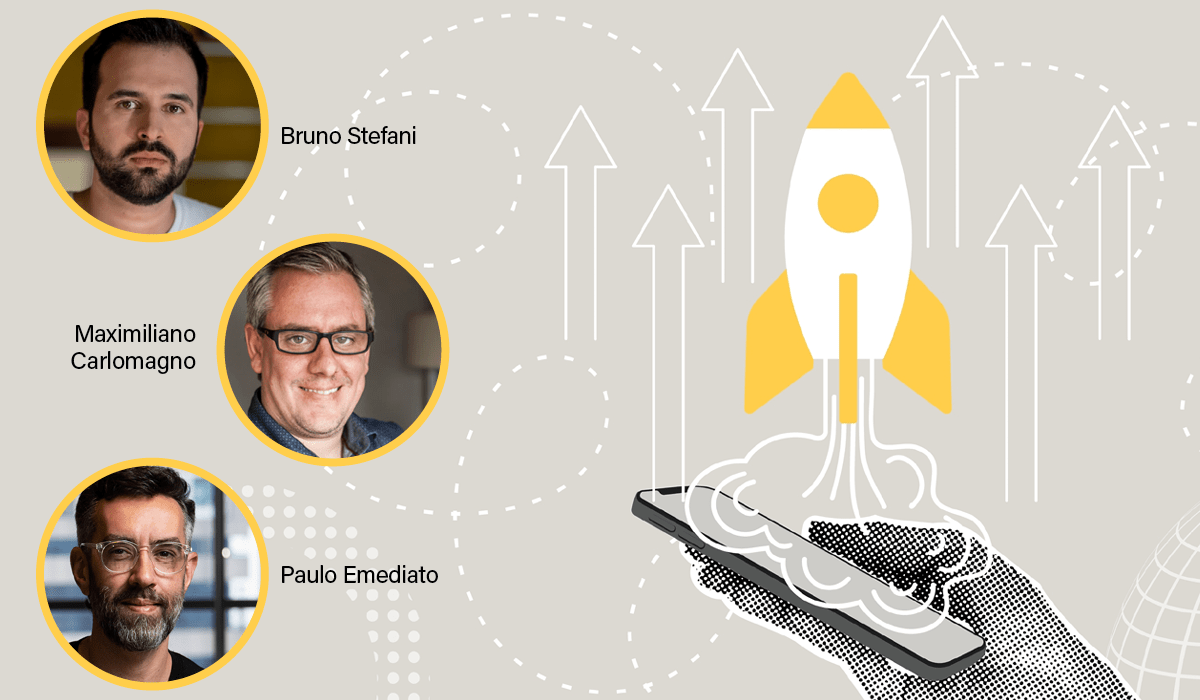
- Inovadores outsiders: o que aprender com eles
- Como o design thinking híbrido encurta distâncias
- Como se proteger em alianças que desandam
- O Brasil segue na contramão – e o problema é de gestão
- Como um bom design de trabalho pode evitar o burnout
- Crie horários de trabalho que funcionem bem para todo mundo (ou quase)
- Quer melhorar o fluxo do trabalho? Localize e elimine os gargalos
- Da automação à autonomia: o novo turnaround operacional das empresas brasileiras
- SLMs, nossa próxima fronteira
- Mudou o raciocínio: do determinístico ao probabilístico
- Do “software como serviço” à “tecnologia como colega de trabalho”
- Repense a arquitetura organizacional e coloque o propósito em tudo
- DEI, integrado na estratégia, melhora o desempenho financeiro, diz pesquisa
- Caráter é mais importante do que qualquer competência – para contratar e para promover
- Federação de dados: associe-se a outras empresas e obtenha o melhor de sua IA
- Um guia prático para extrair valor dos LLMs
“Cerca de 64% das ideias para inovar ainda surgem dentro das fronteiras corporativas no Brasil, sendo que 44 pontos percentuais cabem aos colaboradores e 20 à área de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Nos clientes têm origem 17% das ideias; nos parceiros, 8%; nos concorrentes, 5%; e nas universidades, um número muito baixo, de 1%”, diz Hugo Tadeu, diretor de inovação da FDC, que acompanha no Brasil essa métrica para o Relatório Global de Competitividade do Fórum Econômico Mundial (WEF), iniciado em 1979. Como, em 2011, 63% das ideias surgiam dentro das fronteiras, nada mudou em quase 15 anos.
Como diz Tadeu, “o Brasil está na contramão. Enquanto, em outros países do mundo, a inovação aberta é um motor do crescimento, com ampla conexão entre empresas, universidades, fomento público e capital privado, nosso modelo de inovação aberta ainda é frágil”. Razões?
Algumas estão do lado de fora, como, por exemplo, as universidades ainda buscarem produzir conhecimento focado nelas mesmas e devido aos mecanismos de incentivos atuais – “os professores estão focados em ganhar pontos, tendo acesso a bolsas de pesquisas e distantes das empresas”. A falta de investimento público e privado é outro obstáculo.
Mas do lado de dentro talvez esteja o maior dos problemas. Como diz o especialista da FDC, “as empresas praticamente só buscam, cada vez mais na verdade, resolver problemas pelas vias da inovação, buscando ganhos de escala e de clientes, produzindo ganhos rápidos para o negócio, sem necessariamente gerar um valor maior”.
As soluções propostas neste Report especial poderiam mudar o jogo? Perguntamos a três dos profissionais de inovação mais reconhecidos no mercado por sua experiência com inovação aberta em diferentes papéis. Em ordem alfabética, Bruno Stefani, Maximiliano Carlomagno e Paulo Emediato, que também são colunistas do portal de MIT SMR Brasil.
As respostas mostram que, além das dificuldades de se relacionar com o que está fora das fronteiras enfrentada globalmente, as empresas locais escorregam no campo da gestão e liderança.
O Report especial sugere uma tríade universal da inovação: encontrar mentes originais onde quer que estejam, fomentar colaboração eficaz e proteger a propriedade intelectual. Isso se aplica tal e qual ao Brasil?
Bruno Stefani – Concordo plenamente com a tríade proposta, mas eu faria três adendos de pilares para a realidade brasileira:
- adaptabilidade cultural: no Brasil, a capacidade de “tropicalizar” ideias, de entender as nuances do nosso mercado e do nosso consumidor, é crucial. Muitas vezes, uma solução inovadora que funciona em outros países precisa ser adaptada para ter sucesso aqui.
- inovação com propósito: enfatizaria a importância da inovação com “propósito”. Cada vez mais, os consumidores e talentos brasileiros buscam empresas que gerem impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. A inovação que resolve problemas reais e contribui para um futuro melhor tem mais chances de prosperar.
- foco na execução: destacaria a importância da “execução” impecável. No Brasil, ter uma ideia brilhante é apenas o começo. A capacidade de transformar essa ideia em realidade, superando desafios burocráticos, logísticos e de infraestrutura, é o que diferencia as empresas de sucesso.
Maximiliano Carlomagno – A lógica do encontrar e estimular o pensamento original é relevante. No entanto, seria esse mesmo o ponto de partida? A meu ver, antes disso, a empresa precisa ter a capacidade de identificar oportunidades emergentes junto a seus clientes e não clientes para em cima disso desenvolver soluções originais. Veja o caso da Nespresso na Nestlé. O Eric Favre, considerado o intraempreendedor por trás da solução, passou um bom tempo visitando os melhores cafés em Roma para compreender o contexto e, então, desenvolver a ideia de uma máquina e cápsula capazes de transformar a experiência do café expresso em casa.
Por outro lado, captura de valor depende da capacidade das empresas de estabelecerem barreiras de imitação às suas invenções ou de criarem ativos complementares que potencializam as invenções e as diferenciam da concorrência. O iFood, por exemplo, líder no negócio de delivery no Brasil não é produto apenas de um aplicativo fácil de usar, mas de uma rede única e abrangente de restaurantes que permitem à empresa capturar valor e evitar a concorrência. Em mercados, onde o “enforcement” da patente é baixo, é necessário encontrar outras formas de evitar a concorrência.
De repente, o estímulo é justamente identificar as oportunidades emergentes… Paulo?
Paulo Emediato – Concordo com a tese central, mas a prática é bem mais torta do que esse tipo de síntese costuma admitir.
Negócios resilientes não são apenas os que inovam, mas os que têm estômago, porque a inovação impõe contradições com as quais se tem de lidar. E aqui mora o ponto: a maior parte das nossas empresas não quer inovação – quer previsibilidade com embalagem de novidade. Quer o bônus do discurso transformador sem o ônus da transformação real.
A tal “colaboração” mencionada no Report esbarra num detalhe incômodo: sob pressão, ninguém colabora. Todo mundo corre para o que conhece, para o que já funcionou. Quando o mercado aperta, o discurso de inovação vira PowerPoint, e o instinto de sobrevivência grita: “volta pro core”. O novo é celebrado na bonança e cortado na crise.
É por isso que os negócios verdadeiramente resilientes são aqueles que sabem bancar o desconforto estratégico: proteger o presente sem sacrificar o futuro. E isso exige coragem para sustentar decisões impopulares, insistir em alternativas quando o consenso quer cortes, e aceitar que algumas apostas darão errado – inevitavelmente.
E há senões especificamente brasileiros sobre os pilares. Por exemplo, as empresas brasileiras falam de querer “pensamento não convencional”, mas, na hora de escutar vozes diferentes, preferem as que já falam o idioma do centro. Querem a diversidade que não desafia, a inovação que não incomoda, o novo que parece com o velho só que com roupa colorida. É o mesmo teatro, com outro figurino.
Por isso, a real pergunta que deveríamos estar fazendo não é “como identificar pensadores não convencionais?”, mas “o que estamos dispostos a sacrificar para que eles existam aqui dentro?”. Porque, enquanto o sistema seguir premiando o alinhamento e penalizando a dissonância, toda e qualquer ideia fora da curva será só isso: fora. Da curva e da empresa. Se o mainstream é confortável demais para a novidade prosperar, talvez a solução não seja “incluir as bordas” – mas sim começar a construir a partir delas.
Existe uma fantasia recorrente de que basta pedir para os times “pensarem fora da caixa” entre uma reunião de resultado e outra que a mágica acontece. Não acontece. Pessoas soterradas pela operação não vão, por osmose, virar agentes de ruptura. E não por falta de talento – mas porque o sistema não foi desenhado para isso.
A inovação interna só ganha corpo quando há mudança de regra do jogo: outra governança, outro tipo de incentivo, outro tipo de autonomia e, principalmente, outro tipo de escuta. Caso contrário, tudo vira exercício de performance: ideias boas são ignoradas, e as viáveis demais viram só mais uma tarefa jogada no backlog.
O tal pensamento mágico… Outro pensamento mágico é culpar a distância geográfica pela falta de colaboração e, portanto, de inovação, porque os brasileiros precisam do calor humano, um sentimento talvez igualmente mágico [risos]. Faz sentido?
Carlomagno – A pesquisa Remote work isn’t going away – and executives know it, de Nicholas Bloom, Jose Maria Barrero, Steven Davis, Brent Meyer e Emil Mihaylov apresentam resultados interessantes:
1 – Estudos indicam que os trabalhadores valorizam o home office tanto quanto um aumento salarial de 8%, e que essa opção reduz a rotatividade de funcionários em até 35%.
2 – O trabalho 100% remoto pode reduzir a produtividade em até 10%, mas reduz significativamente custos como aluguel de escritórios e restrições geográficas na contratação.
Ou seja, as pessoas querem o trabalho remoto ainda que ele possa reduzir a produtividade.
Mas na pesquisa How virtual work is accelerating innovation ficam evidentes os impactos do trabalho remoto na inovação. Os autores sustentam que as organizações estão combinando o melhor do trabalho remoto com encontros presenciais ocasionais para fortalecer laços e confiança e potencializar a inovação permitindo maior flexibilidade, inclusão e criatividade.
No entanto, a pesquisa The effects of remote work on collaboration among information workers, publicada na Nature Human Behavior, utilizou dados detalhados sobre e-mails, calendários, mensagens instantâneas, chamadas de vídeo/áudio e horas de trabalho semanais de 61.182 funcionários da Microsoft nos EUA durante os primeiros seis meses de 2020 para estimar os efeitos causais do trabalho remoto em toda a empresa na colaboração e comunicação. Os resultados mostram que o trabalho remoto generalizado fez com que a rede de colaboração dos funcionários se tornasse mais estática e segmentada, com menos conexões entre diferentes partes da organização.
Além disso, houve uma redução na comunicação síncrona e um aumento na comunicação assíncrona. Esses efeitos, em conjunto, podem dificultar a aquisição e o compartilhamento de novas informações entre os funcionários.
Agora considere que seus times precisam não apenas colaborar com seus colegas, mas também com parceiros externos, provedores de serviços, startups, especialistas de maneira geral, profissionais com quem não têm relacionamento.
Os insights aprendidos com o trabalho híbrido do time interno em relação à inovação podem contribuir para trabalhar com gente de fora em inovação aberta também. Mesclando a conveniência do trabalho remoto e a criação de vínculos presencial.
Uma grande empresa de alimentos global fez recentemente um projeto com uma HRtech de Singapura. A maior parte do projeto foi realizado a distância, no entanto, durante a fase de criação do piloto para validar as hipóteses, o time da startup deslocou um integrante de sua equipe para passar dois dias em imersão com a empresa e criar as conexões e permitir as criações que eram necessárias. O piloto foi um sucesso.
Stefani – O fato de o brasileiro ser um povo sociável não limita a inovação colaborativa online. Pelo contrário, a nossa capacidade de construir relacionamentos e de trabalhar em equipe pode ser um diferencial positivo. O desafio é “adaptar” as ferramentas e metodologias de colaboração online à nossa cultura.
Emediato – As falhas de colaboração virtual não têm nada a ver com excesso de calor humano e tudo a ver com falta de intenção, método, clareza de papéis e alinhamento mínimo. A gente troca afeto com facilidade, mas escapa do conflito com a mesma velocidade. E sem conflito produtivo, colaboração é uma encenação.
O fracasso da inovação colaborativa online não está nem na tecnologia, nem na tropicalidade. Está na gestão.
Por gestão me refiro à ausência de intencionalidade e de comprometimento. Reuniões sem pauta, decisões malcomunicadas, objetivos vagos e vaidades não resolvidas não se resolvem com presença física. Se a equipe não funciona a distância talvez não funcionasse presencialmente.
Eu adicionaria ainda que nossa dificuldade de transformar relacionamento em processo é histórica.
Sabemos improvisar, fazer reunião virar happy hour, contornar o caos com leveza – mas não sabemos sustentar inovação em ambientes distribuídos porque, muitas vezes, não sabemos sustentá-la nem mesmo nos presenciais.
Vocês estão me dizendo que há muitos casos no Brasil de equipes distribuídas, sejam só pessoas internas, ou internas e externas, que conseguem inovar?
Stefani – Sim, absolutamente! A pandemia acelerou o que já era uma tendência: a inovação pode florescer em ambientes remotos ou híbridos. A tecnologia nos permite conectar mentes brilhantes de qualquer lugar do Brasil (e do mundo), e a diversidade geográfica pode, inclusive, enriquecer o processo criativo.
Precisa de estrutura, é claro: Boa internet e ferramentas de cocriação (Miro, Slack etc.), confiança entre os times, clareza de objetivos e de entregas, rituais (dailies, check-ins, momentos informais).
Maior exemplo é o Nubank, conhecido por sua cultura de inovação, que tem equipes distribuídas em diferentes cidades e países. A empresa investe em tecnologia e em práticas de gestão que permitem a colaboração eficaz, mesmo a distância. O resultado é um crescimento impressionante e o lançamento constante de produtos inovadores.
Emediato – Inovação pode acontecer a distância no Brasil, sim, mas para mim dificilmente nasce ou se desenvolve profundamente em ambientes 100% remotos. Há um nível de densidade nas interações presenciais que o digital ainda não consegue reproduzir. Priya Parker já mostrou isso com clareza: quanto maior a complexidade do problema, maior a importância da presença física.
Mas o problema não é remoto vs. presencial. O problema é usar esse debate para esconder outras falhas mais difíceis de resolver – como a ausência de uma cultura que sustente a inovação fora do palco. Muitas empresas são contra o trabalho remoto não por causa da inovação, mas porque não sabem operar sem controle visual. Confunde cultura
com vigilância.
E sejamos honestos: se a empresa acha que sua cultura vai desmoronar porque as pessoas não estão batendo ponto às 9h da manhã, então ela não tem cultura – tem um sistema de dependência. Cultura se sustenta no vínculo, na autonomia e no propósito claro. E isso não se mede por biometria.
O que impede de acontecer, a meu ver? Em três pontos:
- Conflito criativo com segurança psicológica: onde todo mundo tem medo de parecer burro, ninguém propõe o novo.
- Direção clara e problemas bem-formulados: se o desafio é vago, a conversa vira palpite e opinião.
- Processo, não improviso: inovação remota exige cadência, não caos travestido de agilidade.
A discussão principal não é sobre estar remoto ou presencial, é sobre maturidade. A pergunta errada é: “inovação acontece a distância?”. A pergunta certa é: “nossa empresa tem o mínimo de coragem, método e clareza para permitir que ela aconteça — onde quer que seja?”. A maioria não tem. E por isso prefere culpar o Zoom.
Dito isso, ainda acredito que ritos e dinâmicas presenciais impactam profundamente na qualidade do trabalho. Não precisa ser engessado como antes, mas algo mágico acontece quando as pessoas estão juntas, e o online jamais será capaz de entregar isso.
Stefani – Sabe como fazer uma equipe distribuída florescer? Quatro pontos bastam:
- Criar rituais de conexão: além das reuniões de trabalho, é importante criar momentos de descontração online, como “happy hours virtuais” ou “cafés virtuais”, para que as pessoas possam se conhecer melhor e fortalecer os laços.
- Usar ferramentas visuais e interativas: plataformas como Miro e Mural permitem que as pessoas colaborem visualmente, o que é especialmente importante para o brasileiro, que é um povo muito visual.
- Incentivar a comunicação informal: criar grupos de WhatsApp ou Slack para que as pessoas possam trocar ideias e tirar dúvidas rapidamente, sem a formalidade do e-mail.
- Valorizar a diversidade de estilos de comunicação: algumas pessoas preferem se comunicar por escrito, outras por áudio, outras por vídeo. É importante respeitar essas diferenças e adaptar a comunicação às preferências de cada um.
É tão simples quanto isso.
Mas outsiders não são rejeitados como agentes de segunda categoria, com o pensamento de grupo predominando?
Stefani – Costumam ser rejeitados, sim, não nego. A rejeição a ideias disruptivas, vindas de “outsiders” ou da “periferia”, tem raízes em diferentes fatores:
- Aversão ao risco: empresas tradicionais, acostumadas a modelos de negócio consolidados, muitas vezes têm aversão ao risco e preferem investir em melhorias incrementais do que em inovações radicais.
- Cultura hierárquica: em culturas empresariais hierárquicas, as ideias tendem a fluir de cima para baixo, e a voz de quem está na “base” ou fora da empresa é pouco ouvida.
- Falta de diversidade: a falta de diversidade (de gênero, raça, origem social etc.) nas equipes de tomada de decisão limita a capacidade da empresa de enxergar oportunidades e de se conectar com diferentes públicos.
- Viés inconsciente: mesmo sem perceber, as pessoas tendem a valorizar mais as ideias de quem se parece com elas, o que dificulta a aceitação de perspectivas diferentes.
Emediato – Acho que a rejeição pode vir do medo da concorrência ainda – o medo de ter sua ideia roubada. Mas eu acho que é mais o medo de perder a narrativa de autoria que muitas vezes inibe o ímpeto de ganhar.
É o fetiche do controle que temos aqui. Inovar em ecossistema exige maturidade para abrir mão do protagonismo. E poucas empresas brasileiras estão preparadas para isso.
No fundo, concorrência é o pretexto elegante. O medo real é de abrir demais e descobrir que a empresa, sozinha, não tem muito a oferecer. Estou me referindo ao pavor – talvez seja esta a palavra – de expor que o core está ultrapassado, que a cultura não sustenta o novo, e que a capacidade de execução foi engessada pela burocracia interna.
Como fazer insiders e outsiders colaborarem, superando o pensamento de grupo?
Carlomagno – O primeiro passo para suplantar o pensamento de grupo e ampliar as perspectivas para soluções não convencionais é alinhando a necessidade dessas soluções. O segundo passo é a criação de incentivos para explorar essas possibilidades. Por fim, para convencer alguém cético sobre algo que ele conhece muito, a melhor forma de provar se algo funciona ou não funciona é testando. O experimento é um veículo mais eficaz de convencimento do que a reunião.
Vocês percebem se a rejeição do insider ao outsider na inovação tem similaridades com a rejeição do insider ao insider diverso que integra programas de DEI (diversidade, equidade e inclusão)?
Stefani – Sim, acho que as coisas estão relacionadas. A rejeição a ideias disruptivas está, sim, relacionada à dificuldade que algumas empresas têm em implementar iniciativas de DEI e de corporate venture capital (CVC) e venture building (VB). Afinal, tanto a DEI quanto o CVC/VB buscam trazer para dentro da empresa novas perspectivas, novos talentos e novas formas de pensar, o que pode ser desafiador para culturas mais tradicionais.
Carlomagno – Não sei se as rejeições são as mesmas. Porque, focando em inovação, as pessoas que podem perder algo vivenciam o “loss aversion” teorizado por Daniel Kanehman no artigo que deu a ele e seu colega o Nobel de Economia. Sentimos psicologicamente mais as perdas do que os ganhos.
Quanto mais você cresce numa organização mais tem a perder. E quanto mais tem a perder mais tende a filtrar o que parece poder colocar as coisas em risco.
É uma atitude racional e inconsciente que precisa ser minorada. Ideias “revolucionárias” tendem a explorar novas tecnologias ou modelos de negócio que podem simplesmente não parecer fazer sentido ou demandarem mais trabalho num exame inicial ou mesmo potencialmente canibalizarem o negócio existente como nos casos clássicos de Kodak, Blockbuster e outros. Executivos atuam em modo de execução a procuram filtrar de maneira eficaz o que não os faz perder primeiro do que os faz ganhar, mesmo que isso custe o futuro.
Emediato – Algumas vezes essas rejeições me parecem similares, sim, mas nem sempre. Digo isso porque é preciso cuidado para não transformar tudo em um grande liquidificador de boas intenções. A diversidade, quando real e não “performada”, desorganiza hierarquias simbólicas. E aí está o problema: inovação e DEI desafiam o mesmo núcleo de poder, só que por caminhos diferentes. Não é resistência à ideia, é resistência ao deslocamento que ela causa.
Sobre as práticas de venture building e CVC, a origem do fracasso costuma ser mais estrutural (e menos debatida do que deveria). A maioria foi criada no pico da euforia entre 2020 e 2021 – com valuations fora da realidade, recursos sobrando e muita empolgação performática. Só que, passado o encantamento, descobriu-se que venture building exige mais do que um framework vendido como infalível por alguma consultoria. Exige articulação política, alinhamento tático com o core e compromisso estratégico de longo prazo. Tudo aquilo que boa parte das corporações diz ter, mas prefere evitar.
Muitas dessas iniciativas foram descontinuadas porque começaram sem convicção real. Foram criadas para “não ficar de fora”. Era moda. E como toda moda, bastou o vento virar que viraram custo. A queda não foi pela ideia em si, mas pela ausência de musculatura institucional para sustentá-la no tempo.
A IA só acelerou um processo que já estava em colapso: o de vender inovação como vitrine, e não como alavanca real de transformação. Em outros casos, práticas foram descontinuadas porque o core business em crise já não era capaz de sustentar uma estratégia mais arrojada para o futuro. É muito difícil bancar esse tipo de aposta atravessando uma profunda crise no presente.
No caso da inovação com outsiders, o que falta é vontade de dividir lucros com os outros, sejam royalties, seja acesso a clientes ou qualquer outro mecanismo?
Carlomagno – Tendemos a querer ter “controle” mesmo quando não faz sentido. Entendo que o receio da concorrência no sentido de “perda de propriedade intelectual” tende a ser superestimado. Patentes não são os únicos mecanismos de captura de valor como já destacado acima.
Há um aumento do entendimento da noção de ecossistema – de um conjunto de atores que se relaciona com diferentes enfoques ainda que não exista uma completa compreensão das implicações disso. De novo: tendemos a querer ter “controle” mesmo quando não faz sentido. Isso acaba gerando decisões inadequadas em termos de fazer ou comprar (make or buy), ou seja, sobre o que deve ser feito em casa e o que pode ser codesenvolvido externamente.
A ideia de que o que é estratégico deve ser desenvolvido internamente tem sido ineficaz, pois a própria definição de “estratégico” varia muito entre empresas e seus interlocutores. Um modelo mais apurado de “build, borrow or buy” pode ajudar muito a reduzir essa noção de concorrência e propriedade para aqueles temas que são não apenas relevantes, mas nos quais a empresa tem uma posição competitiva superior para o desenvolvimento interno, não exista soluções externas ou condições para um M&A efetivo.
A falta de uma cultura de patentes arraigada no Brasil pode ser positiva para nós? Ou não?
Emediato – O Brasil não tem um problema de patente. Tem um problema de ponte. Falta cultura de ponte. A distância entre universidade, laboratório, capital e negócio é constrangedora. Pesquisadores produzem conhecimento que morre em PDF. E os dois lados continuam fingindo que “estão aproximando a academia do mercado”, quando o que existe, na prática, é desconfiança mútua e orçamento pífio.
Nos ecossistemas mais evoluídos, essa ponte é política pública, tese estratégica e prática empresarial ao mesmo tempo. No Brasil, ainda é pauta de seminário. E, enquanto ser cientista continuar sendo um papel quase marginalizado na lógica do negócio – e inovação continuar sendo confundida com MVP bonitinho –, vamos seguir importando soluções e exportando talentos.
Quanto a patente, mesmo sem a cultura consolidada, o Brasil a trata como se fosse um cofre de banco. Precisa parar de fazer isso; inovação não nasce trancada. Ela nasce em fluxo, em fricção, em ambiguidade. Quem está excessivamente preocupado em proteger o que tem, geralmente, revela outra coisa: medo de não ter o que construir a seguir. Se sua ideia não pode ser compartilhada porque tem medo de ser copiada, talvez ela não seja tão inovadora assim. A pergunta, portanto, não é “como proteger minha inovação colaborativa?”. Se essa é a preocupação, já estamos no caminho errado.
Voltando aos três pilares, as formas que a inovação tem tomado nas empresas brasileiras seriam suficientes para dar conta deles em teoria?
Carlomagno – A metodologia de venture client (quando a grande empresa compra produtos/serviços de startups) é aquela que tem apresentado melhores resultados no relacionamento entre empresas estabelecidas e startups.
A Innoscience desenvolveu uma abordagem testada a partir de mais de cem programas com as empresas mais inovadoras do Brasil. Os resultados apresentados são três vezes superiores à média global. Essa abordagem está publicada no recém-lançado livro Simbiose Corporativa: Como grandes empresas podem inovar mais e melhor trabalhando com startups. Parte dessas relações são online e eficazes.
Uma produtora de commodities agrícolas e uma prestadora de serviços de óleo e gás construíram relações duradouras com startups de outros países sem que seus times tenham trabalhado presencialmente juntos. Outros casos de sucesso mesclaram momentos presenciais e online.
O que há de comum em termos de processo de trabalho pode ser sintetizado em
três elementos:
- Alinhamento e linguagem comum: estabelecimento de uma visão clara sobre o escopo, entregáveis e passo a passo, e uma linguagem comum sobre o framework de trabalho.
- Imersão planejada: criação de momentos imersivos para garantir criação de conexão e efetividade de trabalho num contexto de agendas e fusos horários distintos.
- Governança e manutenção de interlocutores: atenção especial aos papéis e responsabilidades dos times de cada parte e a rotatividade de membros dos times participantes.
Emediato – Muitas empresas ainda veem inovação como evento, comitê, laboratório, hub, metodologia. Essas formas não são suficientes. Para mim, inovação é arquitetura organizacional profunda e transversal. Ou está entranhada no sistema de decisão, orçamento e prioridades – ou é teatro. A maioria das empresas faz inovação performática, sobretudo quando estão no azul e não no vermelho. E aí, quando alguém de fato traz uma ideia nova, passa pelo crivo do compliance cultural e sai do outro lado irreconhecível, desfigurada para ser aceita pela maioria.
Em outras palavras, o fracasso da colaboração para inovar não é sobre metodologia – consultorias vendem metodologia como se fosse mágica. E a maioria das metodologias que ganham escala dentro das grandes organizações têm uma função: “proteger quem as usa de ser responsabilizado se der errado”. Frameworks parecem seguros – ninguém é demitido por seguir a cartilha da McKinsey –, lavam a responsabilidade e dão a ilusão de controle. Mas inovação real é o contrário de controle. É negociação constante, é desconforto, é gente errando em voz alta até achar algo que faça sentido.
Então, inovação não se faz com varinha mágica, se faz com faca. Nosso desafio de inovação no Brasil, e provavelmente não só aqui, talvez seja o de que o sistema engole tudo que ameaça o status quo.
Temos no ambiente corporativo essa obsessão por encapsular complexidade em frameworks de consumo rápido. Rápido de aplicar, raso na entrega. O design thinking, assim como outras abordagens, foi mais uma vítima. De um convite para mergulhar no problema com profundidade, virou mais um ritual corporativo. Uma simulação de inovação para que todos se sintam criativos sem precisar mudar de verdade. Encher uma parede de post-its virou sinônimo de “resolver com empatia” – quando, na prática, o que se vê são dinâmicas aceleradas, soluções pré-prontas e uma estética de inovação que serve muito mais à vaidade da organização do que aos desafios reais.
Mas sejamos honestos: isso não é um erro metodológico. É preguiça institucional. O ambiente corporativo tem pavor de incerteza, e qualquer método que a exponha será mutilado até se tornar palatável. Não é à toa que frameworks acabam sempre sendo adaptados à cultura da empresa – raramente o contrário. E quando a empresa quer inovação, mas não está disposta a criar as condições para que ela floresça (tempo, profundidade, escuta, contradição), nenhuma metodologia sobrevive. A falha não é do método – é do ambiente que o mutila pela pressa.
Metodologia importa menos do que se pensa, então?
Emediato – Importa, é claro; metodologia pode ser útil. Mas, se não resolver a ausência de coragem, a falta de prioridade e o pavor de sair da zona de conforto, não adianta.
Vou dizer de outro modo: a inovação morre no Brasil geralmente por falta de resiliência. No fim, resiliência talvez seja a capacidade principal, ao manter viva a tensão entre proteger o que funciona e insistir no que ainda não existe – mesmo quando tudo em volta pede por eficiência, clareza e controle. A maioria opta por dormir tranquila. Os resilientes topam perder o sono. É preciso ter resiliência inclusive porque colaboração de verdade é atrito, ruído, interferência. É abrir mão do monopólio da resposta certa e deixar o outro mexer no que é seu.
Carlomagno – Uma boa metodologia, se implementada corretamente, consegue influenciar a mentalidade da gestão e liderança, aumentando, por exemplo, a resiliência. É o que temos visto acontecer com a metodologia de venture client.
Para terminar: existe um “jeito brasileiro” de inovar?
Emediato – O Brasil é o país do improviso. A adversidade moldou nossa criatividade, mas também criou um vício: resolvemos demais no caos e planejamos de menos para evitá-lo.
Existe um conceito interessante no livro A Inovação do Improviso – o “jugaad”, que é a capacidade de criar soluções simples com recursos escassos. A gambiarra pode até funcionar, mas dificilmente escala. E a inovação que muda mercados precisa escalar.
Stefani – O brasileiro arquetípico tem faro para a criatividade e sensibilidade para lidar com situações-limite. Mas falta musculatura institucional. Falta ritual, processo, paciência. Queremos resultado rápido, mas inovação de verdade exige tempo de maturação – e não sobrevive ao imediatismo de boa parte das decisões por aqui.
O brasileiro tem uma capacidade única de improvisar, de dar um “jeitinho” criativo em problemas complexos. Essa característica, muitas vezes vista como negativa, devia ser reconhecida como um trunfo na inovação. Isso poderia incluir:
- Valorizar a “gambiarra” como forma de prototipar soluções rapidamente e com baixo custo.
- Incentivar a “horizontalidade”, criando ambientes de trabalho mais informais onde as pessoas troquem ideias independentemente do cargo.
- Aproveitar a “riqueza cultural” do Brasil – a diversidade enorme de experiências e perspectivas do País pode ser uma fonte inesgotável de inspiração para a inovação.
SOBRE OS ENTREVISTADOS
Se o Brasil tivesse o hábito de definir “thought leaders”, os três entrevistados desta edição estariam entre os pensadores-líderes da área de inovação corporativa. Eles reúnem experiência prática no Brasil, com sucessos e fracassos, com o foco em estudar e questionar o que é feito aqui e globalmente.
Bruno Stefani
Professor, consultor e ex-executivo
Fundador da Nerd Partners, Stefani vem conectando inovação e pesquisa aos negócios estabelecidos, atendendo clientes como Petrobras, ArcelorMittal, Basf, Bayer, RD Saúde e Unilever, justamente a ponte que falta à inovação aberta
no Brasil.
Foi diretor global de inovação da Ambev e líder de inovação aberta no Itaú. Stefani atua como conselheiro de inovação em grandes empresas e é professor da Fundação Dom Cabral, FGV e Insper.
Maximiliano Carlomagno
Professor e consultor
Sócio-fundador da Innoscience, consultoria especializada em inovação corporativa, Carlomagno já trabalhou com pelo menos 20 das 100 empresas mais inovadoras do Brasil entre elas Ambev, Nestlé, Roche, Pepsico, Dexco, Ache, Grendene, J&J, SLC Agricola, Energisa.
Carlomagno é autor dos livros Gestão da Inovação na Prática, Prática dos Inovadores e o novo Simbiose Corporativa e professor de governança da inovação para conselhos no IBGC.
Paulo Emediato
Professor e ex-executivo
Até recentemente executivo-chefe de marketing da Oxygea, Emediato liderou relacionamentos com o ecossistema focados em sustentabilidade e transformação digital. Trabalha com inovação em diversos contextos e organizações desde 2011.
Foi managing partner do DesignThinkers Group no Brasil, onde liderou projetos em empresas como Meta, Heineken, Samsung, VW, Globo, MRV, Localiza; e é professor de inovação e negócios na Miami Ad School e na PUC Minas.
“A inovação impõe contradições. A maior parte das nossas empresas quer previsibilidade”
Paulo Emediato
Os insights aprendidos com o trabalho híbrido do time interno podem contribuir para trabalhar com gente de fora
Maximiliano Carlomagno
O fracasso da inovacão colaborativa online aqui
Bruno Stefani
não está nem na tecnologia nem na tropicalidade.
Está na gestão
“Temos obsessão por encapsular complexidade em frameworks de consumo rápido”
Paulo Emediato
Leia também


Como o design thinking híbrido encurta distâncias

Inovadores outsiders: o que aprender com eles

O futuro da saúde está em tirar os hospitais do centro do atendimento

Por um RH mais estratégico

Autoras do amanhã #2: “Liderança feminina: conectar, pertencer e impactar”, com Ana Fontes

Como jogar o jogo corporativo sem se perder no processo
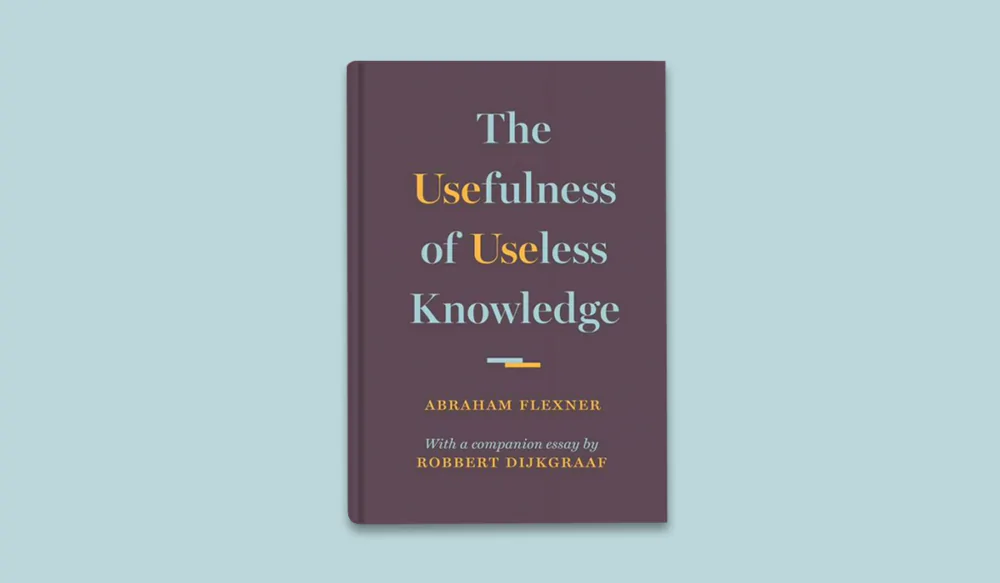
A utilidade do conhecimento inútil, inclusive no Brasil

Influência é uma via de mão dupla