
Soluções criativas para precificar
Sua organização pode agir mais como guardiã de seu mercado do que como mais uma simples produtora, usando o mecanismo de preços para isso
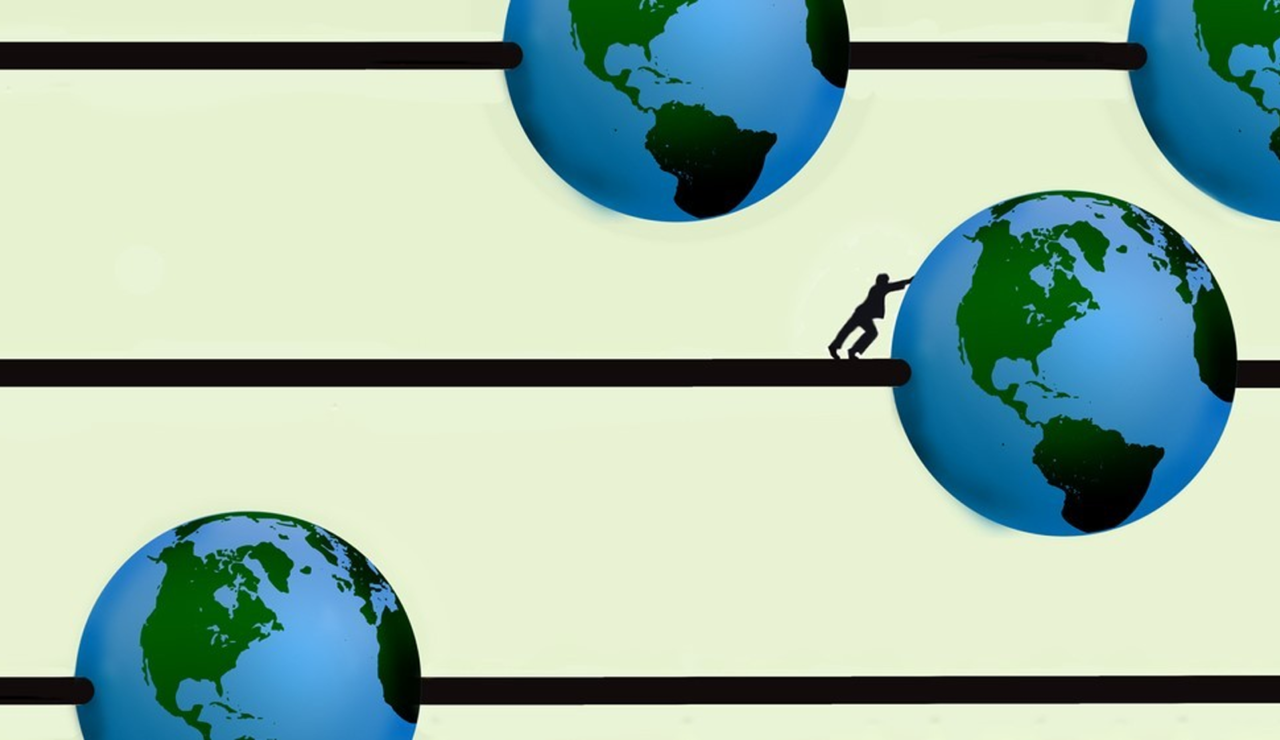
Essa pergunta resume o dilema vivido pelas crescentes fileiras de líderes que entendem que o meio empresarial precisa, no mínimo, deixar de contribuir para o agravamento dos problemas urgentíssimos que a humanidade enfrenta e, se possível, ajudar a resolvê-los. Em declarações de missão e planos estratégicos, muitas empresas estão assumindo o compromisso de investir em sustentabilidade e reduzir desigualdades – mas, na hora de tirar essas metas do papel, tropeçam na questão financeira.
Negligenciado na discussão, no entanto, o mecanismo de preços é um fator que limita desnecessariamente o conjunto de ações que líderes em todas as esferas – empresarial, política, terceiro setor – precisam tomar para implementar soluções cujo porte garanta um impacto expressivo.
Nossa tese é que é possível encontrar soluções criativas que inspirem, em todos os atores do mercado, condutas responsáveis que mitiguem externalidades negativas do comércio antes que sejam computadas por empresas e incorporadas aos preços. De certo modo, defendemos que organizações ajam mais como guardiãs dos mercados do que como meras produtoras, usando os incentivos e a informação embutida no mecanismo de preços para alocar a responsabilidade por um acesso maior e mais justo, por um consumo consciente e efetivo e por um manejo mais eficiente de resíduos.
Na raiz do problema reside a tese de que a única maneira de uma empresa aliviar o ônus do comércio sobre a sociedade é computá-lo corretamente e achar alguém que pague a conta. Essa premissa encurrala a empresa no que chamamos de trade-off. Uma empresa pode até tentar repassar a clientes o custo incremental de agir de maneira ambiental ou socialmente responsável – mas esse público pode não aceitar ou não ter como pagar mais e, portanto, desertar para concorrentes mais baratas ou sair do mercado. Para a empresa, alternativas possíveis seriam sacrificar margens para absorver o custo, derrubar a qualidade ou espremer a cadeia de fornecimento até a última gota, para que a conta feche. Seja qual for a opção, o risco financeiro ou reputacional é tal que muita organização vê em “não fazer nada” a solução mais pragmática.
Esse dilema é particularmente frustrante para líderes comprometidos com a mudança. Emmanuel Faber dirigiu a Danone por mais de seis anos e era tido como um legítimo defensor de um capitalismo mais responsável. Porém, em março de 2021, perdeu o duplo posto de CEO e chairman depois de investidores ativistas terem demonstrado insatisfação com os resultados financeiros, a estratégia e a governança da Danone.
A demissão de alguém como Faber revela um ceticismo que continua latente em empresas pautadas por propósitos. O CEO de uma multinacional europeia teria dito que, se tornasse sua empresa mais verde, sua margem de lucro cairia 3% ao ano, as ações cairiam 15% e ele seria demitido. Com efeito, o estudo Higher Highs and Lower Lows: The Role of Corporate Social Responsibility in CEO Dismissal, de 2017 por Hubbard, Christensen e Graffin, revela que CEOs que instituem políticas mais verdes têm maior chance de ser demitidos por um desempenho insatisfatório do que os CEOs que não fazem isso.
Mais liberdade de ação
Há muito mais margem de manobra com o mecanismo de preços do que se supõe. Isso fica claro quando o líder para de achar que a única pergunta é “como vamos bancar isso?” a única resposta, “embutir externalidades”. Na verdade, cada decisão de preço depende da resposta a perguntas básicas:
– O cliente está pagando pelo quê?- Quem paga a conta?- Quando é feita a transação?- Como a transação é feita?
A maioria das empresas considera que tudo isso já está definido, com respostas irrelevantes e imutáveis. Achamos, porém, que rejeitar essa premissa e pensar de um jeito mais ambicioso sobre o quê, quem, quando e como pode levar a soluções inovadoras.
Repensar pelo quê o cliente está pagando é importante porque determina em que medida a organização gera receita ao entregar resultados que o cliente deseja, em vez de fornecer “inputs” (produtos e serviços). A tradicional abordagem do “fazer e vender” pode colocar pressão financeira e física no acesso, pois obriga o cliente a achar uma solução e a comprá-la, pura e simplesmente. Esse modelo não leva o cliente a pensar de forma responsável sobre o consumo nem garante que ficará satisfeito com a compra. Por último, o “fazer e vender” transfere a propriedade – e, portanto, o ônus do descarte – do fornecedor a um consumidor que talvez não tenha nem vontade nem capacidade para isso.
Hoje, uma série de esquemas comerciais – como assinaturas e associações, modelos pré-pagos, consumo colaborativo, acordos de divisão de receita e contratos baseados em desempenho – pode fazer frente a esses desafios. Cada alternativa dessas pode minimizar o problema do acesso inerente a transações tradicionais, pois a empresa só obtém receita quando dá ao cliente acesso direto e desimpedido àquilo que oferece. Esquemas pré-pagos e de divisão de receita incentivam igualmente o consumo responsável, pois o cliente precisa pagar a cada episódio de consumo, e contratos baseados em desempenho garantem que a empresa só receba ao entregar valor – e não quando o promete.
Ao considerar quem paga, gestores precisam questionar se faz sentido que todo cliente pague o mesmo preço ou até mesmo se deve pagar algo. Pode parecer injusto. Mas, sempre que o acesso universal for a meta em um setor, a empresa deve considerar preços que variam conforme a capacidade ou a vontade das pessoas de pagar ou, se quem estiver pagando for uma terceira parte, o valor que um usuário final isolado obtém.
Em certos casos, a empresa pode pensar em moedas interligadas, de forma que o cliente pague para satisfazer alguma necessidade básica com algo que não seja dinheiro. Um exemplo é subsidiar a compra de filtros de água para eliminar a necessidade de usar lenha para ferver água para torná-la potável. A redução em emissões de carbono resultante da queima menor de madeira tem um valor monetário no mercado de carbono que pode ser usado para bancar o negócio. Basicamente, a ação vinculada à moeda intermediária (queimar menos lenha) deve estar em sintonia com o benefício buscado pelo usuário (acesso à água potável). Caso contrário, focar o primeiro para gerar receita pode desviar o foco do segundo, que é de fato a meta primordial.
Nessa linha, alguns comportamentos são claramente desejáveis de um ponto de vista social ou ambiental – como comprar comida com prazo de validade próximo do vencimento para evitar o desperdício ou fazer uma atividade física para melhorar a saúde. Nesses casos, a empresa deveria considerar preços diferenciados não com base na capacidade ou na disposição dos clientes para pagar, mas em seu interesse em agir de forma responsável.
Outro ponto a reconsiderar é quando e como receber o pagamento. Uma empresa pode optar por micropagamentos para permitir um acesso mais granular. Se for razoável, pode ainda deferir pagamentos para aliviar o ônus financeiro sobre o cliente ou, mais importante, para minimizar o descompasso de custos e benefícios. Por último, é possível usar de criatividade e encarar o pagamento como oportunidade de engajar as pessoas. Uma organização sem fins lucrativos, por exemplo, instalou painéis interativos em espaços públicos para que transeuntes pudessem doar 2 euros passando o cartão de crédito pela tela. Ao passar, o cartão parecia cortar um pão para alimentar uma pessoa com fome.A seguir, quatro possíveis precificações criativas.
Escalando a energia solar
A batalha para mitigar os efeitos da mudança climática é vista por muitos como uma corrida contra o tempo. Essa urgência foi reconhecida pelos 196 países que firmaram o Acordo de Paris de 2015 e se comprometeram a zerar emissões de carbono até 2050. Seguir operando como de costume vai fadar esse esforço ao fracasso.Conseguir avançar antes que o tempo se esgote requer soluções voltadas a garantir acesso mais equitativo a fontes renováveis de energia – em paralelo a um consumo mais consciente. Como levar o setor de energia a migrar de um mercado lucrativo baseado em carbono para outro igualmente lucrativo, porém mais verde?
Um dos maiores obstáculos à adoção da energia solar por usuários residenciais é o investimento inicial exigido para a instalação de painéis solares. Em países desenvolvidos, o custo de uma instalação residencial pode chegar a dezenas de milhares de dólares, ainda que o preço por watt de painéis fotovoltaicos tenha caído quase 80% entre 2010 e 2020. Uma vez instalado o sistema, o usuário tem de esperar anos até que o investimento se pague – para só então começar a usufruir das vantagens financeiras que a energia solar traz. O descompasso entre o momento do desembolso e o início da economia é tanto que não há concessão no preço capaz de compensá-lo de forma razoável e satisfatória.Entretanto, surgiram oportunidades quando fornecedores de soluções de energia solar reexaminaram as questões centrais.
– O cliente está pagando pelo quê? Um cliente residencial quer, basicamente, pagar por energia mais limpa, não por equipamentos para ter acesso a essa energia. Cientes disso, duas empresas pioneiras, Sunrun e SolarCity (hoje Tesla Energy), começaram a oferecer um contrato de compra e venda de energia (conhecido pela sigla em inglês PPA). Em vez de vender painéis à vista ou financiados, as duas vendiam ao cliente a energia gerada pelas placas na forma de um desconto na tarifa cobrada pela concessionária. Além disso, garantiam a geração pelo sistema por 20 a 30 anos. A mudança de foco – em vez de vender painéis, fornecer energia limpa – eliminou o desembolso inicial.- Quem paga a conta? O usuário residencial continua pagando pela energia, mas, em um caso específico como o dos Estados Unidos, o governo federal também investiu alto na instalação de painéis solares, com subsídios e créditos fiscais. Outra alternativa à compra direta, o leasing, reduz a necessidade de desembolsos vultosos pelo governo como meio de reduzir o grande custo inicial e criar incentivos à compra. Idealmente, essa solução pode tirar da equação o governo (e o contribuinte) e colocar os próprios usuários no papel do “quem”.- Quando e como é feita a transação? Suponhamos que o custo inicial da instalação de um sistema fotovoltaico pela Sunrun nos EUA seja de US$ 21 mil, antes de incentivos fiscais. A maioria das residências ainda opta por arcar com essa despesa e receber a energia solar “grátis”. Cerca de 35% dos usuários residenciais, no entanto, já celebram um PPA, o que elimina a despesa inicial em troca do suprimento garantido de energia desde o primeiro dia a um custo mensal inferior ao das tarifas normais do mercado. Esse acordo gera um fluxo de receita previsível para o fornecedor e dá, ao consumidor, uma alternativa interessante ao desembolso ou ao financiamento de uma despesa inicial expressiva.
Combinada com a queda geral nos preços de painéis fotovoltaicos, a adoção de PPAs e de acordos de arrendamento tradicionais ajudou a promover um crescimento exponencial no mercado solar. A Califórnia é um exemplo. A capacidade instalada cresceu de 163 megawatts (MW) em 2010 para 1.950 MW em 2015. Em 2015, 63% das instalações foram por leasing, ante apenas 10% em 2010. É interessante observar que o mercado de compra direta também cresceu de forma expressiva no mesmo período.
O problema do acesso à energia é universal. Em países da África subsaariana, pode ser caríssimo estender redes existentes a populações em lugares ermos – são 22 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade. Kits solares residenciais viraram, portanto, uma alternativa interessante, pois podem ajudar a maioria da população a satisfazer necessidades básicas sem depender de geradores a diesel (ou sem ficar sem energia).
O custo inicial de um kit básico de energia solar no varejo é de cerca de US$ 180 – alto para uma família cuja renda diária pode ser de US$ 1 a US$ 2. O que acelerou a adoção dos kits foi um modelo semelhante ao usado por telecoms: exigir uma entrada combinada com uma tarifa pré-paga. A maioria das pessoas usa o celular para fazer os micropagamentos diretamente. De modo geral, os benefícios dos kits residenciais de energia solar são muitos: menos poluição, mais segurança, mais tempo para educação ou trabalho. E ainda são uma fonte mais confiável de energia, não só devido à luz solar abundante, mas também porque há risco de interrupção no fornecimento de diesel ou de outras fontes de energia.
Cura para todos
Hoje, mais de 70 milhões de pessoas no mundo têm o vírus da hepatite C, uma das principais causas de cirrose e câncer de fígado. Estudo da agência de saúde americana Centers for Disease Control and Prevention revelou que, em 2013, o vírus matou mais gente nos EUA do que outras 60 doenças infecciosas juntas – incluindo HIV e tuberculose.
O que torna o controle da doença tão difícil é sua variada sintomatologia e os custos para tratar cada caso em si. Enquanto tratar pacientes com sintomas leves custa poucas centenas de dólares, para os cerca de 10% dos doentes que precisam de um transplante de fígado o valor pode chegar a US$ 300 mil.
Essa realidade impôs à Gilead Sciences, fabricante do Sovaldi, um revolucionário medicamento contra o vírus, um trade-off difícil. Ao curar uma doença crônica em apenas 12 semanas, o Sovaldi garante um benefício literalmente vitalício à pessoa. Mas o modelo-padrão de preços do setor – que é cobrar um valor pelo tratamento no momento da administração da terapia – torna proibitivo o custo para quem tem sintomas leves. Uma vez que as 12 semanas de tratamento custam bem mais de US$ 50 mil, o Sovaldi só faz sentido para a pequena minoria de doentes com um quadro grave.
Um preço menor ampliaria o acesso e aceleraria a meta da Organização Mundial da Saúde de reduzir mortes causadas pela hepatite C em 65% até 2030. Mas também derrubaria o lucro do tratamento, criando um dilema para dirigentes de biofarmacêuticas encarregados de recuperar investimentos expressivos em P&D e de dar retorno a investidores.
Uma nova abordagem ao mecanismo de preços deu ao ecossistema de saúde um meio de resolver o trade-off. A Gilead trabalhou com o estado americano da Louisiana para repensar duas das questões fundamentais expostas acima:
– O cliente está pagando pelo quê? Em vez de pagar para tratar apenas doentes cuja condição é mais séria pelo esquema por “dose” ou por “tratamento”, pagadores de planos de saúde poderiam pagar por “população curada”. Com isso, a distribuição do benefício total se daria no plano da população, independentemente da gravidade dos sintomas de um indivíduo em particular na hora do tratamento.- Quando e como é feita a transação? O desembolso é distribuído ao longo de vários anos, em vez de ser exigido quando o tratamento é administrado – para corresponder melhor ao momento no qual o paciente está desfrutando dos benefícios. Isso também é bom para o sistema Medicaid da Louisiana, que gasta menos com transplantes de fígado e outras intervenções de alto custo. Isso permite que o tratamento seja bancado em todo caso cuja lógica clínica e econômica é inequívoca.
Distribuir pagamentos ao longo do tempo e benefícios por toda a população é melhor para todos do ponto de vista econômico. Esse esquema é justamente apelidado de modelo Netflix, pois tem semelhanças com a assinatura de um serviço de streaming. O provedor garante um fluxo de receita constante e serve a muito mais usuários do que se negociasse caso a caso. O comprador garante uma solução de longo prazo para toda uma população, de modo a permitir que todos se beneficiem, independentemente de seu nível de consumo.
Em 2019, em um acordo com uma subsidiária da Gilead, a Louisiana pagou uma soma fixa para receber todo o regime de tratamento contra o vírus da hepatite C que fosse requerido por pacientes cobertos pelo Medicaid e no sistema prisional até 2024. Embora o texto exato do acordo não tenha sido divulgado, calcula-se que o valor seja consideravelmente inferior ao montante total que teria sido necessário para tratar todos os pacientes com o vírus ao custo corrente do tratamento. Se partirmos de cerca de US$ 35 milhões ao ano para o mínimo de 31 mil pacientes com o vírus citado no comunicado à imprensa, isso equivale a cerca de US$ 1.130,00 por paciente, por ano, para a cobertura da população toda, ou cerca de US$ 5,6 mil por paciente durante os cinco anos do contrato. No fim de 2019, o estado americano de Washington firmou um acordo parecido com a farmacêutica AbbVie.
Certos atores do ecossistema de saúde se mantêm céticos quanto a essas modalidades de contrato. Novas tendências, no entanto, vêm ajudando a criar alinhamentos de preços com o momento da entrega de valor, de forma a aumentar a eficiência. Entre elas está a crescente adoção de anos de vida ajustados pela qualidade como indicador genérico do ônus de doenças e meio de precificar tratamentos com base nos resultados para a saúde, conforme evidenciado por iniciativas recentes da Roche com modelos personalizados de ressarcimento.
Eficiência na educação
O custo do ensino superior nos EUA é cada vez mais insustentável – tanto para alunos cujo futuro financeiro acaba toldado por um nível de endividamento asfixiante quanto para o governo federal, fonte de mais de 90% dos mais de US$ 1,7 trilhão em créditos estudantis em aberto. Em jogo, aqui, está como evitar que esse bolo cresça ainda mais e como garantir que o gasto com o ensino superior realmente leve aos resultados desejados, como aquisição de conhecimentos e bons empregos.
Uma solução aborda a questão do “quem” e a do “quando e como” e, em certos casos, também a do “quê”. Chamado de acordo de distribuição de renda (ISA, do inglês Income-Share Agreement), o esquema prevê que o aluno pague à instituição de ensino apenas quando sua renda anual ultrapassar um certo patamar. Uma parcela de sua renda vai para o pagamento da dívida, até que seja totalmente quitada. A diferença entre um ISA e um crédito normal é que não há cobrança de juros nem obrigatoriedade de pagamento se o estudante não achar emprego ou se tiver um salário abaixo do piso definido. São programas interessantes para quem opta por cursos técnicos de um ou dois anos, embora universidades renomadas como a americana Purdue também já tenham aderido à ideia.
O estado do Tennessee usou o princípio do ISA para criar um vasto programa sob o lema Drive to 55. O “55” alude à meta de chegar a 55% da população do estado com diploma universitário ou certificação técnica até 2025. O programa inclui o Tennessee Promise, que dá bolsas de estudo para cursos universitários ou técnicos específicos a alunos que cumpram certos requisitos, além do Tennessee Reconnect, que permite a adultos sem diploma ou certificação concluir a formação sem custo. A diferença entre os programas do Tennessee e um ISA é que nem há plano de ressarcimento dos cofres públicos.
O programa existe há anos e vem dando certo porque traz vantagens a todos os envolvidos. Alunos ganham acesso à educação. O retorno para o estado é criar novos contribuintes e tornar-se mais interessante para empresas que queiram acesso à força de trabalho capacitada. O estado também ganha ao exigir de alunos do programa, como contrapartida, um período de serviço comunitário.
Fechando o circuito na moda
Se a indústria da moda fosse um país, seria o quarto maior emissor do mundo de gases do efeito estufa, atrás apenas de China, EUA e Índia. Segundo uma estimativa, o setor consumiria mais energia do que os transportes aéreo e marítimo somados. Ao mesmo tempo, a dependência do algodão – e, por conseguinte, da irrigação e de agrotóxicos – tem impacto ambiental considerável: a produção de uma única camiseta de algodão pode consumir até 2,7 mil litros de água. Apesar disso, cada americano, em média, descarta mais de 36 quilos de têxteis todo ano, ou seja, 12,8 milhões de toneladas de lixo.
Peguemos uma calça jeans do “fast fashion”, vendida por US$ 50. O Impact Institute calcula o “preço real” desse jeans – o preço de varejo somado ao custo para a sociedade e para o meio ambiente de levar o produto ao mercado – em cerca de US$ 90.
O trade-off aqui é claro. De um lado, o consumidor provavelmente se negaria a pagar quase o dobro por algo feito para durar uma ou duas estações. Do outro, a maioria dos fabricantes e varejistas não tem nem de longe margem suficiente para absorver o custo maior. Frente a esse dilema, fechar os olhos para o impacto ambiental é quase compreensível.
O desafio, portanto, é buscar maneiras de mitigar externalidades negativas em vez de embuti-las no preço. Para isso, certas empresas estão tomando medidas criativas para reduzir o desperdício inerente ao pipeline da moda. Uma das ações de maior alcance é promover o reaproveitamento ou a reciclagem de roupas em vez do descarte.
É exatamente aqui que repensar a questão do “quê” assume importância crítica. O modelo tradicional de “fazer e vender” do setor da moda, no qual a propriedade de uma peça de roupa é transferida do varejista para o cliente no ponto de venda, joga a responsabilidade de fechar o ciclo para o indivíduo que consome.
Uma saída para motivar as pessoas a ser mais responsáveis é pagar por isso. Um exemplo é o da Patagonia, marca de roupas e acessórios para esportes de aventura. Como parte do programa Worn Wear da empresa, o consumidor recebe créditos para uso na loja ao devolver artigos usados. Isso posto, o setor de modo geral pode não avançar na circularidade à velocidade exigida a menos que adote um meio de gerar receita que não seja fundamentado na transferência da propriedade – ou seja, um meio que não dependa da boa vontade de cada cliente.
O mundo da moda poderia pensar seriamente em adotar modelos de leasing e assinatura nos quais o consumidor pagaria pelo acesso a roupas e acessórios. Essa mudança no “quê” elimina a necessidade de depender da atitude responsável das pessoas e coloca o reaproveitamento e a reciclagem nas mãos de fabricantes, que supostamente podem se desincumbir disso de modo mais eficiente e em escala.A holandesa MUD Jeans aluga suas peças por um prazo de 12 meses, após o qual o consumidor pode manter a calça ou devolvê-la para reciclagem. Já a Rent the Runway trabalha com o aluguel de roupas de grife cuja compra teria custo proibitivo, enquanto a Nuuly oferece uma assinatura de roupas que parte de seis peças por US$ 88 ao mês. À medida que o público vai se habituando a alugar roupas ou a assinar serviços de guarda-roupas, fornecedores ganham mais liberdade para mitigar o trade-off expresso no verdadeiro preço de peças de vestuário.
Preços mais inteligentes
Nossas pesquisas e o trabalho com CEOs e outros líderes nos convenceram de que toda organização precisa repensar as três questões cruciais que expusemos se quiser chegar a um equilíbrio entre metas de sustentabilidade e suas obrigações mais imediatas para com os stakeholders.As recomendações que se seguem– da reflexão inicial à implementação – podem nortear líderes na busca de respostas originais e criativas às perguntas “o quê”, “quem”, “quando” e “como”.
Tornar o “green premium” viável e transparente. A principal causa do trade-off está naquilo que Bill Gates chamou de “green premium”, ou prêmio verde. Quando um produto ambientalmente correto custa o dobro da versão “suja” convencional, poucos estão dispostos a pagar a conta. Já quando os gestores são capazes de enxergar o que está elevando custos, há mais fundamentos para decidir aonde direcionar sua atenção, ao reconsiderar tanto o modo de definir preços como as decisões na cadeia de fornecimento que possam reduzir a pegada convencional do negócio.
Focar resultados, não produtos. Essa mudança de mentalidade amplia necessariamente o escopo e põe o foco nas externalidades. Alguns fabricantes de vestuário, por exemplo, estão deixando de “vender roupas” para “vestir pessoas” e acrescentando soluções de alfaiataria, conserto e reciclagem à relação com o consumidor. Enquanto empresas seguirem mais focadas nos meios do que no fim, oferecer soluções reais para problemas de clientes continuará sendo apenas uma aspiração.
Alinhar desembolso e benefícios. No caso de muitas soluções, o grande entrave é o óbvio descompasso entre a hora do desembolso (geralmente bem no início) e a chegada dos benefícios (geralmente depois de um tempo). O preço de varejo de um veículo elétrico como o Chevrolet Bolt, por exemplo, é cerca de 40% maior do que o de um veículo equivalente a gasolina, mas o custo de operação do veículo ao longo de sua vida útil é bem menor para o elétrico – sem contar o benefício para o planeta. Alternativas ao desembolso inicial geram um alinhamento maior entre os dois momentos. Além disso, tornam o produto acessível a mais gente, graças à distribuição do custo ao longo do tempo.
Servir populações, não segmentos. Acordos de preços que abarquem toda uma população fazem sentido quando a solução tem vasta aplicabilidade, mas a vontade ou a capacidade de pagar de cada pessoa, isoladamente, varia muito. Nesse caso, o “quê” deixa de ser uma única dose ou produto e passa a ser a cobertura de toda uma população. O preço ótimo no caso de segmentos-alvo é excludente por definição, enquanto o preço voltado a toda uma população tenta ser inclusivo.
Ativar o ecossistema. Repensar a solução da empresa ou jogar para a frente as receitas deste ano normalmente abre oportunidades que uma só empresa não consegue explorar por conta própria. Abordagens criativas ao mecanismo de preços tendem a envolver terceiros. Financiamento, suporte e logística na última milha são componentes comuns do ecossistema que exigem que uma empresa enxergue além de seu core business.
Ter apoio dos acionistas. Embora sempre vá haver conflito entre sustentabilidade e lucro, mais e mais stakeholders estão vendo a primeira como fator de geração de valor em longo prazo. Transformar a oposição de acionistas e investidores em adesão importa, pois isso pode garantir ações viáveis de sustentabilidade. Em nossa experiência, mudanças importantes no mecanismo de preços requerem comunicação e engajamento assertivo com todas as partes interessadas.
O modo como a maioria das empresas encara o mecanismo de preços hoje não desperta muita fé em sua capacidade de ajudar a resolver os desafios sociais e ambientais mais prementes do mundo. O foco estrito em preços específicos – naquilo que podemos chamar simplesmente de “quanto?” – limita a capacidade da organização de atingir a escala que suas soluções de sustentabilidade merecem.
Com efeito, o hoje popular conceito do prêmio verde (o “green premium”) é, em sua essência, uma redefinição da estreita pergunta “quanto?”. Dirigentes empresariais precisam parar de pensar no preço simplesmente como uma barra que pode ser elevada ou baixada para levar o público a comprar menos ou mais. Cada decisão de preços compreende escolhas adicionais, mais estratégicas, que podem mitigar externalidades negativas do comércio antes que sejam embutidas no preço por empresas.
Não estamos dizendo que rever o mecanismo de preços é a solução mágica. Estamos, porém, afirmando que um mecanismo de preços mais eficiente é um dos meios necessários para acelerar o progresso. Abrir a mente na questão dos preços ajudará a catalisar a busca por soluções inovadoras e duradouras que sejam lucrativas, escaláveis e palatáveis para o consumidor.”
Leia também


Como construir um plano de comunicação de crise cibernética

Comércio imersivo: lições do Walmart

Tendências no marketing: alavanca de negócios ou mero modismo

Sua loja está dando bons motivos para o consumidor sair de casa?

Construindo pontes entre ambientes físicos e digitais
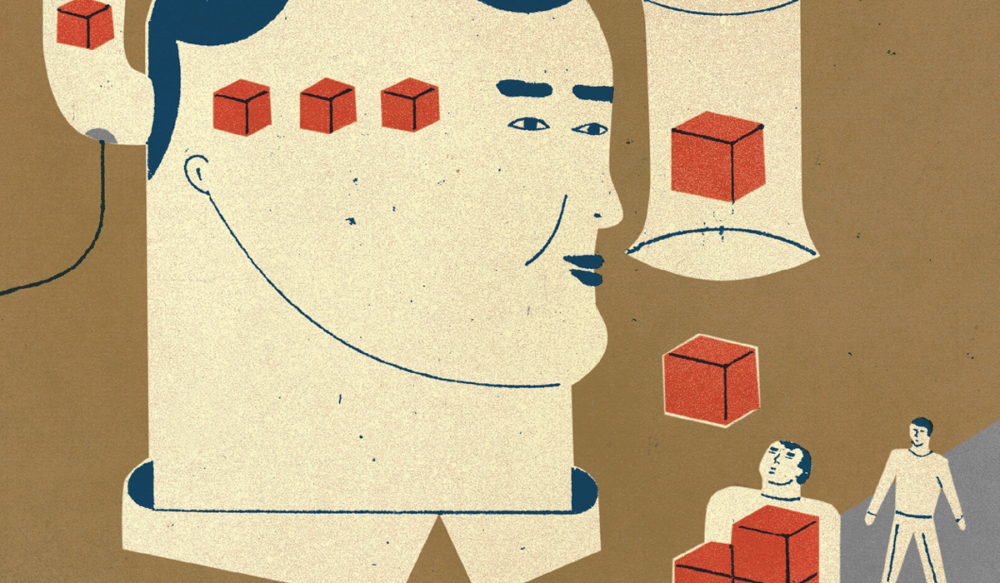
Já pensou em “produtizar” o serviço da sua empresa?

Chega de B2B e B2C: a nova era dos negócios é H2H
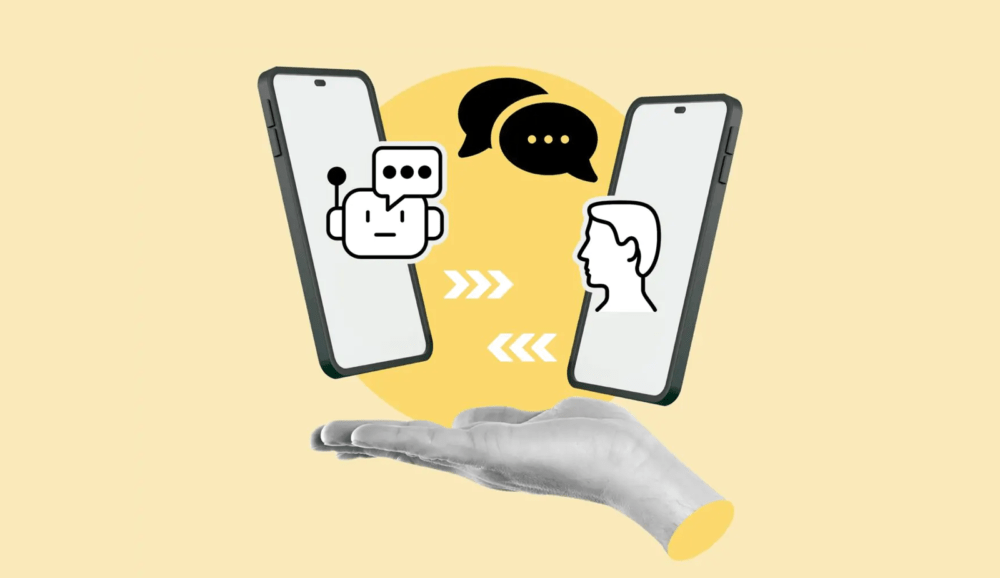
Como as franquias estão abraçando a IA para ganhar agilidade e aumentar a receita
